Bolsonaros brilham no Carnaval da hipocrisia
Por Jânio de Freitas
O apelido, Zé Garoto, com certeza vinha de longe, porque os cabelos, além de vencidos por duas entradas ambiciosas, já branqueavam. Para nós, da Redação, não teve nome.
Baixo, maciço, cabeça esférica e volumosa, tipo perfeito do sertão nordestino. Cicatrizes de cortes no rosto de lua, no pescoço, agravavam o ar sinistro vindo do olhar duro e da sisudez imóvel. Foi guarda-costas e chofer de J.E. de Macedo Soares, jornalista lendário e fundador do Diário Carioca, até que a inatividade do patrão o fizesse só motorista do jornal. Mas nenhum repórter ou fotógrafo se sentia à vontade na velha caminhonete do DC. Com razão.
Certa vez, Armando Nogueira (o que veio a dirigir por longo tempo o jornalismo da TV Globo) saiu com Zé Garoto para reportar a rebelião no presídio de Anchieta, longa viagem até o litoral de São Paulo. Rebeliões assim eram raras na época, e as primeiras informações daquela eram alarmantes.
Já no lado paulista, e próximo de um retorno, Zé Garoto embicou o carro e disse, como um aviso vulgar: "Vou voltar". Armando lançou-se aos argumentos, jornalísticos, lógicos, éticos, para ao fim só ouvir um eco: "Vou voltar".
Emitido por voz e cara que não pediam concordância. Zé Garoto entregava o primeiro reparte das edições no sul fluminense, zona de influência política de Macedo e do DC, e no retorno recolhia remessas de pequenos agricultores, faturando um extra. Seguir ainda, noite já avançada, impediria os dois serviços.
Por muitos, passava como se não os visse, talvez reunidos na expressão que dele ouvi mais de uma vez: "coitado do que pensa que me faz frio". Como Gilson Campos, também sobrevivente do DC, e um ou outro mais, pude me dar bem com Zé Garoto.
Em noite logo depois de um Carnaval, íamos em seu furgãozinho buscar um carro neurótico que tive, e que ele se oferecia para consertar, quando começou a chuviscar e levantei o vidro do carona. Notei uma rachadura e, no alto, a falta de um pedacinho em forma de vê. "Estava chovendo, não desci o vidro todo, e a bala raspou aí. Mas não atrapalhou. Foi o último."
Anos atrás, na guerra entre capangas de políticos, Zé Garoto foi atacado ao chegar em casa, muito esfaqueado e jogado na vala imunda. Supunham-no morto. "No primeiro Carnaval quando fiquei bom, peguei um. No outro Carnaval, peguei o segundo. No outro, o terceiro. Todos na rua. No ano passado perdi o quarto. Nesse ano, aproveitei que tava chovendo, não ia ter movimento na rua dele, dei um plantão lá. Uma hora ele ia aparecer. De noite ele saiu, eu tava esperando no outro lado. Aí estragou esse vidro, que eu tinha que abaixar mais. Mas não atrapalhou."
O ano inteiro pensando no Carnaval, esperando o Carnaval, ansiando pelo Carnaval. O Carnaval não é o mesmo para quem sai de saiote no bloco de rua, para quem quer a exibição no desfile da escola de samba e para quem vai ao baile do Copacabana Palace. O Carnaval é de cada um. Zé Garoto esperou e gozou os seus com razões e expectativas pessoais como todo carnavalesco. Seus carnavais de crime e de morte.
Naquela altura, o Carnaval também morria, quando os maiores contraventores, acusados de uma infinidade crimes, resolveram ressuscitá-lo. Por sua conta. O Estado fez no Rio um Maracanã do samba para o Carnaval que os contraventores organizavam e pagavam. Em São Paulo foi igual.
O feito dos contraventores projetou o Carnaval pelo mundo. Com incentivo e proveito das economias urbanas, com formidável promoção da TV, dos jornais, das revistas e rádios, e lucros altos para todo lado. E, por todo o ano, ataque e polícia para cima dos contraventores, acusados sempre, presos e soltos, considerados a laia da sociedade e do crime —até chegar o Carnaval.
É a grande festa da hipocrisia nacional. Agora estendida ao país pelos carnavalescos Bolsonaros, Damares, Ricardo Vélez, Ernesto, Queiroz, e tantos outros fantasiados.
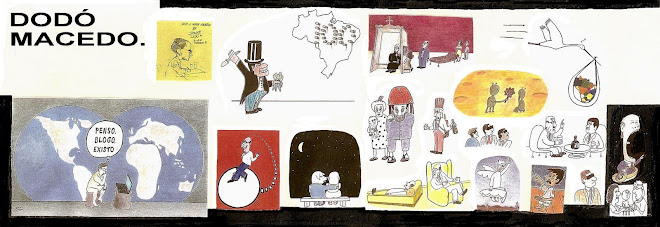

Nenhum comentário:
Postar um comentário