Gould e a derrubada das teses racistas
Por Luis Felipe Miguel
Nos programas de minhas aulas no curso de Ciência Política, os cientistas políticos são minoria. Há muitos historiadores e sociólogos; filósofos, economistas, antropólogos, geógrafos e psicólogos também têm espaço. E um biólogo: Stephen Jay Gould, que faleceu em 2002, aos 60 anos, e foi um dos intelectuais mais admiráveis do nosso tempo.
Não tenho, é claro, nenhuma competência para apreciar o trabalho que fez em sua especialidade, a paleontologia. (Gould dizia que toda criança de dez anos quer ser paleontóloga e o que o diferenciava é que ele nunca tinha superado essa fase.) O mesmo em relação à sua principal contribuição à teoria da seleção natural, a ideia de “equilíbrio pontuado” – segundo a qual a mudança nas espécies ocorre sobretudo em momentos de crise, quando muitos desaparecem e só os melhor adaptados conseguem legar sua carga genética. Espécies com população grande e estável transmitem uma carga genética variada às gerações seguintes, motivo pelo qual permanecem basicamente imutáveis. Em suma, nós, humanos, não estamos “evoluindo” e, se a gente conseguir não ferrar com tudo, nossos descendentes daqui a 50 mil anos serão geneticamente idênticos a nós, assim como o somos em relação a nossos antepassados, 50 mil anos atrás. Acho um argumento convincente, mas careço do conhecimento para fazer uma avaliação ponderada da questão.
O Gould que eu admiro, portanto, é sobretudo o incrível intelectual humanista, que juntava evolucionismo, história da ciência, filosofia e ciências humanas em ensaios escritos de forma primorosa (várias coletâneas deles foram traduzidas para o português). Uma questão que mobiliza boa parte deles é o combate ao uso da biologia como instrumento para validar formas de desigualdade social – algo que continua muito presente, nos discursos que atribuem à determinação genética a inclinação pretensamente natural de determinados grupos a determinadas atividades ou comportamentos.
O livro que enfrenta de maneira mais sistemática a questão é 'A falsa medida do homem', publicado no Brasil pela Martins Fontes – exatamente o que incorporei no programa de uma disciplina. Gould não se limita a refutar os argumentos que tentam provar a “inferioridade natural” de algum grupo humano (em geral não-brancos, mulheres, trabalhadores ou europeus orientais). De fato, hoje sabemos que não existe como determinar a inteligência pela observação do cérebro, nem mesmo por seu peso ou volume; sabemos que os testes de QI medem muito mais a adequação a determinados padrões culturais do que a inteligência. Sabemos até mesmo que aquilo que chamamos de “inteligência” é um construto mental, não uma qualidade que existe por si só, no qual são incluídas várias capacidades distintas; logo, a ideia de uma única escala para medi-la é desprovida de sentido.
Gould vai além disso: mostra como os próprios estudos que buscavam provar empiricamente – por exemplo – que o cérebro dos brancos é maior que o dos negros ou dos ameríndios se baseavam em amostras enviesadas. A única relação segura que o tamanho da caixa craniana (proxy para o tamanho do cérebro) tem é com a altura do indivíduo. Logo, se eu escolho uma amostra de populações mais altas ou mais baixas, o resultado será diferente: suecos ou portugueses, dinkas do Sudão ou khoikan da Namíbia. Da mesma forma, se eu incluo mais adolescentes ou mulheres na amostra, a estatura média provavelmente cairá. Mas estatura e inteligência, como todos nós sabemos, não têm relação necessária; se tivessem, o time de basquete dos prêmios Nobel seria imbatível.
Então Gould pega os dados das pesquisas e as refaz, controlando esses viéses. Pega as anotação de um tal Samuel Morton, por exemplo, e reorganiza os dados retirando os adolescentes e dando pesos idênticos a mulheres e homens. O resultado é que, recalculadas, as declaradas diferenças no tamanho médio da caixa craniana se tornam irrelevantes. Mesmo com base na sua teoria fajuta, as teses racistas não se sustentam.
Infelizmente, desde que o livro foi publicado (em 1981), ele se tornou ainda mais atual e urgente. As teses racistas e a defesa das desigualdades com base numa pretensa natureza têm ganhado novo fôlego. Na reedição de 1996, Gould acrescentou um novo capítulo (infelizmente ausente da edição brasileira) para refutar The bell curve, a influente apresentação de um racismo científico repaginado pelo cientista político Charles Murray. Na época, Murray representava a direita mais radical dos Estados Unidos, tendo sido conselheiro de Bush pai e de Bush filho. Hoje, ele está na oposição a Donald Trump, a quem considera um extremista perigoso. Como se vê, parece que só andamos para trás. - (Fonte: aqui).
................
Dois comentaristas fizeram reparos às conclusões expostas no texto acima:
1. Felipe A P L Costa
"O artigo, apesar de breve, reproduz ao menos três tipos de problemas. Primeiro, abriga erros e mal-entendidos conceituais (p. ex., carga genética não é sinônimo de genoma, assim como seleção natural não é sinônimo de evolução). Segundo, parte do pressuposto de que o conceito biológico de raça (i.e., o conceito de raça geográfica ou variedade local) não se aplicaria a nós, seres humanos. Terceiro, enaltece os feitos de um autor (Stephen Jay Gould) de modo superficial e acrítico. A exemplo de outros autores famosos, antes e depois dele (a exemplo de Ernst Mayr e Richard Dawkins), Gould era uma prima-dona arrogante. Mas era também um demagogo pouco afeito a princípios éticos: um exame de análises contidas no livro 'A falsa medida do homem', mencionado no artigo, desmente as conclusões dele, além de sugerir que o próprio Gould deturpou ou manipulou dados. (Aos leitores interessados em divulgação científica, sugiro uma passada de olhos no recém-lançado 'O evolucionista voador & outros inventores da biologia moderna'.)"
2. Ricardo Cavalcanti-Schiel
"Bom, tenho a anunciar que Stephen Jay Gould NÃO DERRUBOU as teses racistas.
Em primeiro lugar porque, para muitos, sobretudo os antropólogos, é avaliação corrente que, no campo da biologia, desde a década de 70, os trabalhos de Bernard Lewis e Richard Lewontin são muito mais relevantes para desmontar eventuais argumentos biológicos sobre a existência de raças.
E em segundo lugar, o problema é que as raças já saíram da biologia, e estão soltas por aí (e com muito mais "perigo"), gozando de muito mais legitimidade, por conta da discursividade sociológica produzida a partir da academia norte-americana e, mais que tudo, por conta das políticas de identidade.
Há dez anos atrás, olhando para a nova discursividade racialista brasileira e sua fetichização da cor (numa espécie de "eterno retorno" fenotípico), eu sintetizava esse "giro culturalista" da raça nos seguintes termos:
"(...) agora, ao que tudo indica, inverte-se o estratagema justificador do racismo clássico do século XIX. Se este pretendia encontrar conteúdos culturais específicos para uma repartição 'natural' dada pela biologia, agora se pretende ir ao encontro de uma verdade 'biológica' para o que é inicialmente suposto como uma construção social."
(“Quando nem todos os cidadãos são pardos”. In: Peter Fry et alii. 2007. Divisões Perigosas: Políticas Raciais no Brasil Contemporâneo: 263-270. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira).
[Sobre a persistência do racialismo como nova forma de racismo (ou "neorracismo", como chamo no meu artigo), veja-se, por exemplo: "A inexistência biológica versus a existência social de raças humanas: pode a ciência instruir o etos social?"]
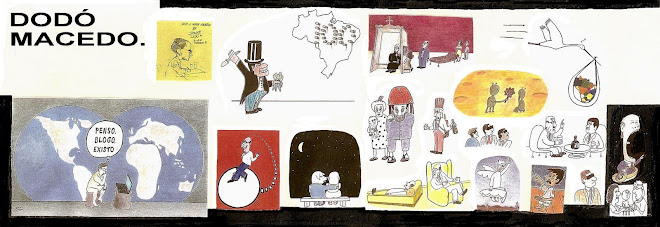

Nenhum comentário:
Postar um comentário