"“Que horas ela volta'', de Anna Muylaert, é um filme obrigatório pelo incômodo que provoca ao discutir as mudanças sociais através das relações de uma trabalhadora empregada doméstica, seus patrões, sua filha e o filho deles. E, ao mesmo tempo, por ter a coragem de lembrar de falar em esperança nesses tempos em que achamos que qualquer luz no fim do túnel pode ser um trem.
O Brasil gosta de se comportar como uma sociedade de castas. Não de forma escrachada (a elite social, econômica, política, intelectual não aprecia nada muito cru). Preferimos um cozido de relações em que todos pareçam viver em paz – desde que, é claro, cada um saiba (e fique em) seu lugar. Daí, para provar o contrário, essa elite mostra à exaustão a história do Joãozinho, que comia biscoitos de lama e andava na miséria plena e, que por conta própria, sem a ajuda de ninguém, estudou e virou diretor de uma multinacional – como se a exceção fosse a regra.
Uma sociedade em que as correntes que mantém a exploração trabalhista deixam de ser feitas de ferro, passando a ser incutidas diretamente na cabeça dos explorados. A ponto de muitos deles defenderem essa exploração, criticando os “badereneiros'' que vão contra as regras sociais. Mesmo que essas regras não tenham sido democraticamente discutidas, mas impostas pela tradição – de cima para baixo.
Participei de um bate-papo com a diretora mediado pela jornalista Natália Engler, na TV UOL, nesta sexta (4). A íntegra pode ser vista aqui. Não vou me alongar sobre o filme porque acabarei cometendo um spoiler. Se não quiserem vê-lo pela temática, vejam pela Regina Casé que está excelente no papel de Val, a empregada.
Aproveito para elencar alguns pontos que já trouxe aqui, mas acho pertinente retomar por conta do filme.
Durante as discussões sobre emenda constitucional que elevou os direitos das trabalhadoras empregadas domésticas para um patamar mais próximo do restante da população, lemos e ouvimos um festival de preconceitos. O que foi ótimo para nos lembrarmos do que somos feitos de verdade e o tanto que falta ainda para que possamos nos olhar no espelho sem sentir vergonha.
Ainda hoje, escutamos ecos de reclamações de senhoras e senhores sobre o inferno no qual mergulharam suas vidas a partir do momento que “essa gente'' passou a achar que era “igual a eles''. Alguns exemplos coletados (na vida real, não no filme):
– Pedi para a mocinha que trabalha lá em casa ficar mais duas horinhas porque o Arnaldo ia se atrasar do tênis e ela disse que não. Disse que tinha os filhos em casa. E os meus?
– Ela não quis trocar a folga. Disse que tinha marcado uma viagem. Agora, esse povo viaja!
– Deve ser enchente. Ela, apesar de morar na favela, é mulher honesta, nunca falta.
– Pediu demissão e se foi. E tá me processando por direitos! Eu que a tratava como uma filha.
– Não são que nem nós, que tivemos criação.
– Ela disse que não quer mais dormir no quartinho dela porque é fechado e não tem janela. Na favela dela, também não deve ter…
É incrível o ressentimento de alguns por terem sido obrigados a ceder um tiquinho à qualidade de vida dessa gente “que não sabe o seu lugar'', como é possível ver na timeline de muitos “homens e mulheres de bem''.
Seja na superfície, através de piadinhas, risinhos, ironias e preconceitos, seja estruturalmente, pela impossibilidade de ir a um hospital sem enormes filas, estudar em uma boa escola, voltar para casa com conforto, viver em um bairro com saneamento básico e ter a certeza de que os filhos chegarão à idade adulta, já passamos o recado de quem manda e quem obedece.
Detesto acordar de manhã com um especialista no rádio ou na TV dizendo que não é o momento de garantir direitos a determinada categoria de trabalhadores porque a economia não aguenta, vai gerar mais informalidade, as estruturas do país não suportam esse luxo ou porque o bagre-de-cabelo-moicano não se reproduziu ainda este ano.
Reclamam que isso vá gerar uma hecatombe sobre as contas previdenciárias – mas na hora em que precisam de alguém para fazer o trabalho sujo por eles ninguém fala nada. Se ignorarmos os direitos desses trabalhadores, estamos considerando que uma sociedade pode aceitar basear o seu crescimento sobre o esfolamento de um determinado grupo.
A Organização Internacional do Trabalho demorou meio século para conseguir aprovar uma convenção sobre os direitos das trabalhadores empregadas domésticas. A civilizada Europa precisava de mão de obra barata, mas não queria garantir aos imigrantes os mesmos direitos de quem nasceu no continente. Através dessa exploração do trabalho informal, regulava o custo de vida em várias economias.
Como já disse aqui, incomodo-me bastante que muitas plantas dos apartamentos no Brasil ainda tenham o “Quarto de Empregada” destacado, ao lado da cozinha e da lavanderia – versão contemporânea da senzala. Pode parecer besta, mas isso é carregado de simbolismo e, portanto, fundamental, herança da escravidão oficial, que moldou o nosso país.
Aquele tantinho de espaço ao lado das vassouras, rodos e produtos de limpeza, destinado à criadagem me irrita. Se ela tiver que dormir no serviço, deveria compartilhar um espaço mais digno. Um quarto de hóspedes, por exemplo.
– Ela é quase da família.
– Você colocaria seu filho para dormir no quartinho de empregada?
– Não. Mas que comparação boba. É diferente.
– Você colocaria seu filho para dormir no quartinho de empregada?
– Não. Mas que comparação boba. É diferente.
O problema é que a realidade social brasileira, bem como o diabo, vive no “quase''.
Somos quase um país justo.
Conseguimos ser quase civilizados.
A dignidade aqui é quase respeitada.
A gente quase trata pobre como gente."
(De Leonardo Sakamoto, em seu blog na Folha de São Paulo, post intitulado "A minha empregada era quase da família" - aqui).
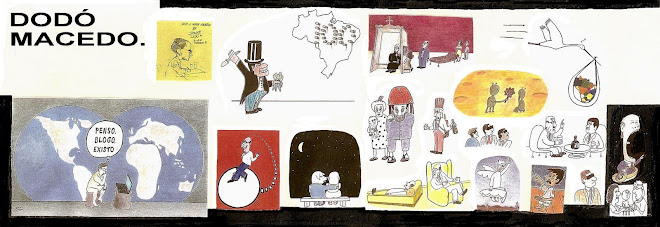

Nenhum comentário:
Postar um comentário