Com Trump e Bolsonaro, o video game molda a política
Por Wilson Ferreira (No Cinegnose)
Depois de Trump e Bolsonaro a política nunca mais será a mesma: são duas figuras que despontaram na superfície de um movimento mais profundo que vem intrigando pesquisadores que estudam as transformações da política através da tecnologia: como na nossa sociedade os elementos lúdicos vêm invadindo diversas esferas com a proliferação dos jogos, principalmente os eletrônicos. O cinismo e desilusão com a democracia representativa combinados com elementos inerentemente lúdicos das tecnologias digitais, plataformas e aplicativos estariam gerando uma “gamecracia”, “casual política” ou simplesmente uma “neodemocracia”. Assim como nos games, a política estaria sendo moldada por uma irresponsabilidade lúdica, como se tudo fosse apenas um jogo eletrônico no qual as consequências do erro são minimizadas para dar fluência à partida. Afinal, num videogame temos muitas vidas para perder. E até aqui, no espectro político, a direita é aquela que está mais antenada nessas transformações.
Foi no extinto programa de humor da Globo Tá no Ar: a TV na TV (2014-19). Em um esquete vemos uma cliente, acompanhada pelo vendedor, procurando itens de compra em uma espécie de loja de departamentos. Ela se detém diante de um estande no qual posa um general ombreado por dois soldados empunhando fuzis. Todos eles trajados com modelos antigos de uniformes do exército brasileiro. Alguma coisa datada dos anos 1960.
“Gostei desse... ele é bom?” - pergunta a entusiasmada consumidora. O vendedor é cuidadoso com as palavras, dizendo que “pode ser” sem muita convicção. “Ah... mas, qualquer coisa, eu posso trocar, né?”, pergunta a mulher, insegura. O general, até então imóvel como uma estátua, intervém irritado: “Trocar nada! Vai ficar com a gente por 21 anos!” ... E ordena aos soldados armados: “podem prendê-la!”, arrastando a assustada consumidora que não entende nada.
O esquete era uma evidente ironia não só ao tempo que durou a ditadura militar brasileira, como ao estranho nostalgismo pós-moderno de pessoas que não viveram aquele período, mas são capazes de acreditar que foram os melhores momentos da recente história brasileira. E certamente serão esses que estarão nas manifestações convocadas pelo capitão da reserva dublê de presidente, para esse domingo, clamando por intervenção militar no Congresso e STF. (Nota deste Blog: Este artigo foi publicado originalmente em 25.05.19, no Cinegnose).
Irresponsabilidade lúdica
A felicidade desse esquete é que ele retrata uma certa maneira de focar a política que cresce na atualidade – apresenta de forma engraçada uma espécie de irresponsabilidade lúdica, como se a Política fosse um jogo eletrônico (“qualquer coisa, a gente troca...”) que permite diversas tentativas, minimizando os erros e dando fluência ao game e passagens de níveis na partida.
Nesse curto e simples esquete encontramos uma síntese preocupante daquilo que muitos pesquisadores atuais como Alex Gekker (“Gamocracy: Political Communication in the Age of Play”), Alexander Galloway (“Protocol: How Control Exists After Decentralization”) ou Jodi Dean (“Why the Net is not a Public Sphere”) chamam de “neodemocracia”, “política casual” ou, simplesmente, “gamecracia” (“Gamocracy”).
O ponto em comum em todos esses pesquisadores é que o elemento inerentemente lúdico está se tornando proeminente na sociedade atual pela grande proliferação de jogos (principalmente eletrônicos) e que as teses em torno dos estudos culturais sobre jogos e entretenimento seriam fundamentais para compreendermos as atuais estratégias de comunicação na política.
 |
| Alex Gekker e o aplicativo da campanha de Obama em 2008 |
Casual política
A confluência das mídias de convergência com as mídias tradicionais, junto com a perda da legitimidade das formas tradicionais de representatividade na política (partidos, sindicatos etc.) transformariam o espaço midiático num decisivo campo onde o poder se confundiria com o lúdico. Em outras palavras, o elemento lúdico, presente nos jogos formais e incorporado nos designs de jogos, estariam contaminando campos que, por sua natureza, não se constituem como “games” – política, economia, processos seletivos corporativos etc. – sobre a gameficação corporativa, clique aqui.
Por exemplo, para Gekker os meta-processos dos games resultam na “casual política”: além da utilização de aplicativos (vide o caso de aplicativos desenhados exclusivamente para a campanha de Obama em 2008 ou o papel das redes sociais e WhatsApp no caso Trump e Bolsonaro) a política passa a priorizar interfaces tecnológicas marcadas pela imediaticidade visual, controle intuitivo, simplificação das tarefas e clara definição de objetivos. A “usabilidade” passa a ser um dos principais quesitos para esse novo ativismo político, assim como nos designs de jogos.
A casual política é pensada para um tipo de ativismo bem distinto da velha militância centrada por motivações político-ideológicas – ela é desenhada para intervenções rápidas (“short bursts”), em pequenas ações de acordo com o tempo ou expertise que o ativista tem disponível.
Mas principalmente, assim como nos jogos, o engajamento ocorre em um game que exibe uma atitude de perdão em relação ao erro. Permite diversas tentativas, sempre no sentido de manter a fluidez e a ininterruptibilidade do jogo – o game pode ser sério ou difícil, mas permite em caso de erro não ser necessário repetir fases anteriores do jogo.
Minimização do erro
Esse humilde blogueiro jamais esquecerá as primeiras experiências perceptivas ao passar de uma máquina de escrever para um editor de texto em um computador. Tudo parecia lúdico, como fosse um jogo. Mas, principalmente, percebi assombrado que as consequências do erro eram minimizadas: enquanto numa máquina de escrever, diante do erro datilográfico, ou você pacientemente tentava bater a tecla sobre o corretor para encobrir a letra errada, ou arrancava o papel, amassava, jogava na lixeira e começava tudo de novo.
Para meu assombro, num computador bastava apertar a tecla “delete” ou dar um “backspace”.
Lembro-me que naqueles anos 1990, muitos pesquisadores (prontamente qualificados como “tecnofóbicos”) apontavam as consequências ético-morais para essa espécie de irresponsabilidade do erro. Por exemplo, Michel Heim no livro “Metaphisics of Virtual Reality” (Oxford Press, 1993) apontava para essa perda do peso erro: bastaria apertar a tecla “esc” ou “delete” e poderíamos abandonar uma tarefa, eliminar um erro, sem enfrentar consequências de perder tudo e recomeçar um trabalho.
Nesse simples evento corriqueiro no qual a tecnologia nos salvaria de nós mesmos, estaria a eliminação das âncoras que nos prenderiam ao mundo real: finitude, temporalidade e senso de fragilidade corporal. Em outras palavras, esse alívio frente às consequências do erro geraria uma visão de mundo amoral.
Claro que poderíamos afirmar que a tecnologia é regida pela lei do menor esforço, desempenho e praticidade. O problema é quando esse paradigma começa a contaminar as outras esferas de natureza não-tecnológica da sociedade, como a Política.
Da estética à gameficação
Sabemos que, no espectro político, a extrema-direita historicamente sempre foi mais antenada com a aplicação das novas tecnologias do momento no campo político. Desde o nazi-fascismo no século XX, no qual a política foi estetizada por meio da propaganda política através do cinema e do rádio.
No século XXI, mais uma vez, a extrema-direita inova com a verdadeira blitzkrieg através dos algoritmos das redes sociais. Os casos do Brexit e as eleições de Trump e Bolsonaro mostram que foi dado mais um passo à frente: da estetização do século passado, agora temos a gameficação da política– a política levada a termo através dos paradigmas dos jogos eletrônicos: usabilidade, ininterruptibilidade e, principalmente, a irresponsabilidade do erro.
“Qualquer coisa, a gente troca!”, dizia a incauta compradora sem entender as consequências da sua opção. A política reduzida à interface dos aplicativos parece ter reduzido a complexidade político-ideológica em um simples jogo, com tarefas facilmente identificadas (por meio da polarização do espectro político) e a possibilidade de desbloquear etapas e subir nos níveis da partida – através do incremento dos laços nas redes sociais através do compartilhamento de fotos, memes etc.
Essa irresponsabilidade feliz (típica de gamers que sabem ter infinitas tentativas e várias vidas a perder) é certamente o que está por trás das galhofas da chamada “direita alternativa” (alt-right): mãos fazendo arminha, fetichização de revólveres, fuzis, balas, munições e meganhagem (sobre esse conceito, clique aqui).
Como falam nas “raids” (ataques de surpresa em sites, fóruns e salas de bate papo), é tudo “zoeira” ou “for the lulz” – apenas “por diversão”.
O pesquisador canadense Arthur Kroker, em 1994, parece ter pressentido esse caráter lúdico regressivo, próprio da adolescência, na crescente virtualização das relações sociais:
Diante de tudo isso, passamos a desconfiar da função ideológica diversionista de todo o debate sobre a suposta influência ou efeitos negativos dos videogames no comportamento dos jogadores como ações violentas ou doenças emocionais. A questão não são os videogames em si, mas como os meta-processos dessas plataformas estão moldando múltiplas esferas sociais que passam a acomodar uma certa lógica midiática.
Na política, o cinismo e desilusão com a representação e engajamento políticos combinados com essa espécie de “democracia direta” pelas plataformas digitais produz essa gameficação: a transformação do drama político num mero jogo de ganha/perde no qual as consequências são desprezadas. Afinal, temos muitas vidas para perder...
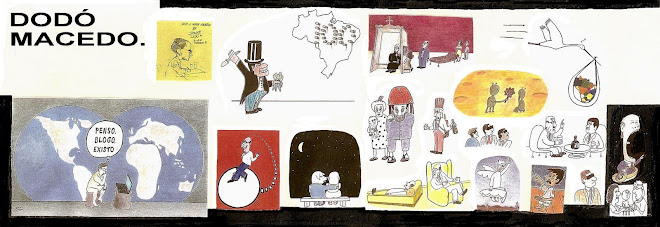




Nenhum comentário:
Postar um comentário