Minha família mudou-se para os Estados Unidos no final de 2016. Estávamos entusiasmados com o sonho de viver no país mais influente da história moderna, que passava naquele ano por profundas transformações e oferecia grandes esperanças. O segundo mandato do primeiro presidente negro do país, Barack Obama, chegava ao fim, e pela primeira vez uma mulher, Hillary Clinton, estava perto de ser eleita presidente. Seis dias depois de nos instalarmos na nova casa, em Windermere, na região central da Flórida, Alexandra e eu descobrimos que teríamos um filho.
Arthur nasceu pouco mais de oito meses depois, bastante saudável, com cabelos louros encaracolados. Era o primeiro norte-americano dos dois lados da família. Em agosto de 2017, quando fui providenciar a certidão de nascimento do pequeno, a foto oficial na parede do escritório da Administração da Previdência Social não era mais a do presidente negro nem havia sido trocada pela de uma presidente mulher: exibia o rosto alaranjado de Donald J. Trump.
Em novembro de 2016, uma de minhas primeiras reações na manhã seguinte à surpreendente vitória de Trump foi ligar para um amigo norte-americano. Eu estava curioso para saber suas impressões sobre a eleição, pois meu amigo havia se mudado do Alabama para a cidade de Washington por achar que o antigo estado confederado estava ficando perigoso demais para ele, um gay casado com um negro e pai de um menino adolescente, também negro. “Não há com que se preocupar”, afirmou. “Essa eleição foi apenas um dos últimos espasmos de uma sociedade antiga, que está desaparecendo para dar lugar a outra, inteiramente nova, muito mais aberta e inclusiva. Temos que saber entender e conviver com quem pensa diferente, conscientes de que o tempo está do nosso lado.”
A chamada “guerra cultural” entre liberais e conservadores é um deles. A disputa travada por esses dois lados da vida norte-americana, expressos na política institucional pelos partidos Democrata e Republicano, sempre foi benéfica aos cidadãos e às instituições democráticas do país. Hoje, porém, as tensões se ampliaram enormemente no espaço público. A expansão das redes sociais como terra de ninguém no campo da opinião política, bem como o descrédito das instituições e da imprensa, aumentaram em incontáveis decibéis o tom do debate público nos Estados Unidos. A animosidade entre as pessoas também se intensificou, como comprovam os assassinatos durante as manifestações políticas ocorridas nos últimos meses em diversas cidades. A consequência, no dia a dia, é que mesmo os assuntos mais comezinhos passaram a ser tratados como confrontos radicais entre duas visões de mundo.
Há algumas semanas, quando a Flórida ainda era um dos principais focos da pandemia nos Estados Unidos, uma vizinha postou o seguinte alerta na rede social Nextdoor: “Atenção, todos aqueles que pretendem ir sem máscara ao Publix [uma rede local de supermercados]. Tenho recebido relatos indignados de pessoas que têm sido confrontadas por maskers. Estejam alertas. MAGA!”
“Maga” é a abreviação do slogan de campanha de Trump, Make America great again (Façamos a América grande outra vez), mas foi a palavra maskers (mascarados) que me deixou desconcertado. Ao usar esse termo, minha vizinha republicana tratou as pessoas que seguem as orientações das organizações de saúde quanto ao uso de máscaras como se fossem membros de uma organização terrorista. Imagino que, hoje, com o governo forçando a reabertura das escolas a qualquer custo, já deva existir uma palavra para tachar os que acham arriscado levar seus filhos de volta às salas de aula. Talvez os chamem de “negadores do conhecimento” ou homeschoolers. Mas não se iluda: do lado dos democratas também há pessoas complicadas, como os que rejeitam as vacinas ou acham que até as estátuas de Abraham Lincoln merecem ser derrubadas.
“Que a história seja capaz de relatar que o fim deste capítulo de trevas na América começou aqui, nesta noite, quando o amor, a esperança e a luz se uniram na batalha pela alma da nação.” Assim Joe Biden encerrou o discurso em que aceitou a indicação do Partido Democrata para concorrer à Presidência dos Estados Unidos. Por causa da pandemia, ele falou diante de um auditório vazio, o que deu ainda mais gravidade ao pronunciamento.
Do discurso, pode-se deduzir que a eleição norte-americana, no próximo dia 3 de novembro, será uma luta do bem contra o mal e que seu desfecho determinará o destino da democracia nos Estados Unidos. É uma avaliação plausível. Fato é, porém, que a eleição apenas desdobra em nosso tempo graves conflitos em torno da “alma” do país que remontam à Guerra Civil, se quisermos ir mais longe.
Historiadores dizem que a grande divisão ideológica se instalou nos Estados Unidos a partir dessa guerra sangrenta travada entre 1861 e 1865, ano em que o republicano Lincoln assinou o decreto que pôs fim à escravidão. No período subsequente, chamado de Era da Reconstrução, os estados confederados foram ocupados pelas forças federais e iniciou-se a inclusão dos negros na vida política, inclusive por meio do voto. Mais de 2 mil negros ocuparam cargos públicos, inclusive como políticos eleitos, a maioria em estados do Sul. Dois deles, Hiram Rhodes Revels e Blanche Bruce, chegaram a se eleger senadores pelo Mississippi, estado que só em junho deste ano retirou de sua bandeira o emblema dos confederados.
A Era da Reconstrução foi encerrada em 1877, depois que os democratas sulistas pressionaram o governo republicano a retirar as tropas federais da região e restituir a liberdade de cada estado estabelecer suas próprias leis. Outra vez donos do destino de seus estados, os democratas do Sul passaram a limitar o acesso de eleitores negros às urnas, recorrendo a regras eleitorais absurdas, como a exigência de títulos de propriedades, diplomas e até testes de conhecimentos gerais. Um conjunto de leis estaduais, chamadas Leis Jim Crow, oficializou a segregação no Sul, proibindo os negros, por exemplo, de frequentar os mesmos locais que os brancos. Quase todas essas leis vigoraram por nove décadas, contando com a condescendência da Suprema Corte, que em 1896, no caso Plessy versus Ferguson, havia estabelecido a doutrina dos “separados, mas iguais”. Em consequência, o percentual de negros que votavam nos estados do Sul caiu de 65% durante a Era da Reconstrução – uma participação até maior que a do eleitorado branco – para menos de 3% após as leis segregacionistas.
Além de produzir uma legislação espúria, democratas sulistas passaram a promover violência contra a população negra, participando da criação da Ku Klux Klan. A perseguição política e social deu origem à Grande Migração, que fez com que a porcentagem de negros no Sul passasse de 91%, na Era da Reconstrução, para menos de 60%, em 1960. Foi necessário esperar 134 anos para que um negro voltasse a ser eleito para o Senado por um estado sulino, feito que coube a Tim Scott, da Carolina do Sul, em 2013. A legislação segregacionista só seria revogada pela Lei dos Direitos Civis, assinada em 2 de julho de 1964 pelo presidente democrata Lyndon Johnson. Essa assinatura muito significativa fez o eleitorado negro, que desde Lincoln estava conectado ao Partido Republicano, constituir a partir de então um sólido bloco de apoio ao Partido Democrata.
O fato de os republicanos já terem sido inimigos de supremacistas brancos e de os democratas nem sempre terem atuado em defesa das minorias dá a medida da complexidade da história política norte-americana. Foi principalmente a partir da segunda metade do século XX que os democratas passaram a assumir as bandeiras liberais – de ampliação dos direitos civis à redução da desigualdade, da ecologia ao sistema universal de saúde –, deixando a pauta mais conservadora aos republicanos.
Com essas características, as duas forças políticas conviveram em níveis razoavelmente civilizados até o final dos anos 1990, quando políticos de extrema direita, em particular Newt Gingrich, passaram a urdir confrontos cada vez mais ferozes, com o apoio da mídia conservadora e de movimentos como o Tea Party. Com isso, o lado democrata também acirrou o seu discurso. O ódio político aumentou, e os políticos de ambos os lados passaram a entender as eleições de 2008 e 2012 (ambas vencidas por Obama) como um combate pela “alma” do país. Não é surpresa, portanto, que Biden encare da mesma forma a disputa com Trump.
Durante muitos anos, cada um de nós terá sua lembrança mais marcante deste estranho ano de 2020. Memórias da pandemia serão inevitáveis. Alguns recordarão a missa do papa Francisco na Praça de São Pedro deserta, no Vaticano, outros os jogos de futebol cujos gritos não vinham de torcedores presentes nos estádios, mas de vozes gravadas, reproduzidas pelo sistema de som nas arenas vazias.
Minha principal lembrança será de Bob Dylan, que, depois de oito anos sem gravar uma música inédita, premido talvez pela urgência despertada pela pandemia, lançou um álbum só com novas canções. Entre elas, se destaca Murder Most Foul (Assassinato sem perdão, em tradução livre), um assombroso tour de force de dezessete minutos no qual Dylan faz um vasto inventário das memórias de sua geração, combinando-o com seu próprio testamento artístico. É impossível ouvir a música sem ter a sensação de que foi feita por alguém que se prepara para a morte – o que causa enorme impacto, especialmente num momento como o atual. A letra da canção, porém, aborda outra crise, de outro momento da história dos Estados Unidos: o assassinato do presidente John F. Kennedy, em 1963, episódio que, para Dylan, marca o momento em que o país começou a perder sua alma. Não é difícil discordar da escolha do compositor, uma vez que outros episódios históricos dividiram ainda mais fortemente o país, como o assassinato de Lincoln, o assassinato de Martin Luther King e a Guerra do Vietnã. Mas vale a pena tentar entender as razões de Dylan.
Quando os Estados Unidos, ao fim da Segunda Guerra Mundial, conquistaram a liderança global, levando o sonho americano para o resto do mundo, tudo levava a crer que o país superaria os traumas do passado. O democrata John F. Kennedy parecia ser o estadista certo para essa transição, mas sua morte em Dallas acabou deixando o projeto de reconciliação nas mãos de Lyndon B. Johnson, cuja carreira política fora construída ao velho estilo dos democratas do sudoeste, ou seja, absolutamente conectada com o status quo e desinteressada em trazer a questão racial para o centro do debate. Com o assassinato do jovem líder, o texano Johnson se tornou um improvável campeão dos direitos civis. Cumpriu sua missão, mas sem o carisma e a popularidade de Kennedy – e os dois partidos mergulharam ainda mais fundo em suas trincheiras ideológicas.
Hoje, para piorar, foram rompidas as barreiras de civilidade, compostura e tolerância que até pouco tempo atrás regravam as atitudes dos governantes e a convivência entre políticos e eleitores. As mídias espelham os atritos, dividindo-se abertamente entre as que defendem e as que condenam Trump. Na guerra de narrativas, muitas atitudes graves do presidente são tomadas como meras diatribes e acabam deixando de causar espanto.
A média de aprovação de Trump, de acordo com o site de pesquisas de opinião FiveThirtyEight, jamais esteve abaixo de 36,5% nem acima de 46%. Na verdade, os índices de popularidade de Trump são dos mais estáveis entre os presidentes nos últimos cem anos, e os adoradores dele não estão dispostos a abandoná-lo nem mesmo em face de graves escândalos. Um dos mais recentes foi provocado pelo recém-lançado Raiva, segundo livro do jornalista Bob Woodward sobre o governo Trump (o primeiro, de 2018, foi Medo: Trump na Casa Branca; ambos lançados no Brasil pela Todavia). Num dos trechos aterradores da obra, o presidente conta que desde fevereiro deste ano já sabia da gravidade da pandemia, mas preferiu minimizar a doença “para não alarmar a população”.
A revelação caracterizou para os progressistas um ato criminoso da parte do presidente, enquanto os conservadores definiram como sabotagem o vazamento dos áudios da conversa de Trump com Woodward. O assunto dominou o debate público, mas pesquisas mostraram que, mesmo após essa revelação, Trump permanecia com 43% de aprovação, um dos melhores índices de sua série histórica. Woodward foi um dos principais repórteres que investigaram o escândalo Watergate, que levou à renúncia do presidente Richard Nixon em 1974. Mas nem o jornalista parece capaz de colocar em xeque a credibilidade do atual ocupante da Casa Branca junto a seu fiel eleitorado.
O episódio é mais uma demonstração de que fatos concretos e verificados parecem ter pouca importância em tempos dominados pelas redes sociais. É como se a famosa frase do senador democrata Daniel Patrick Moynihan – “Você tem direito às suas próprias opiniões, mas não aos seus próprios fatos” – não fizesse mais sentido. Esse ambiente de “fatos alternativos” (infame expressão da conselheira política de Trump, Kellyanne Conway) possibilitou que um sem-número de teorias conspiratórias florescesse livremente. Algumas das mais insanas vêm sendo produzidas por um anônimo que se autodenominou Q.
Postadas inicialmente nos fóruns 4chan e 8chan, as conspirações tramadas por Q foram ganhando cada vez mais adeptos nas redes sociais, até que se desenvolvesse em torno dele um verdadeiro culto. Seus fanáticos seguidores passaram a divulgá-las com a hashtag #QAnon, que se tornou a designação do culto e acabou por rebatizar o conspiracionista anônimo.
Em tom messiânico, fazendo acusações terríveis e previsões esotéricas, QAnon – que muitos seguidores acreditam ser o próprio Trump – propaga pela internet que o atual presidente dos Estados Unidos é a última barreira capaz de conter o movimento de destruição dos valores norte-americanos tradicionais. Na visão delirante de QAnon e seus asseclas, a falência moral e política do país vem sendo urdida e financiada por um grupo de bilionários pedófilos e adoradores de Satã, alinhados com as lideranças democráticas e o chamado Deep State (Estado profundo), pessoas que estariam agindo secretamente no centro do poder a fim de sabotar as instituições conservadoras.
Parece insano – e é. Mas não são poucos os que vão aos comícios republicanos com camisetas e cartazes estampados com frases de QAnon. A mais famosa delas está resumida na sigla WWG1WGA, ou Where we go one, we go all (Para onde vai um de nós, vamos todos). O próprio Trump já compartilhou diversos vídeos e posts de seguidores dessa seita, embora tenha dito depois que o fez sem checar antes o conteúdo. A imprensa profissional – que de início tratou como pitoresco e ridículo o Tea Party, movimento que pavimentou a ascensão de Trump – só há pouco passou a dedicar atenção ao fenômeno. Tarde demais. Cerca de vinte candidatos republicanos alinhados com as ideias de QAnon, muitos deles incensados por Trump, disputarão vagas para o Congresso nas próximas eleições. E, por causa da predominância de eleitores de direita em seus distritos, pelo menos a metade deve se eleger em novembro.
No último mês de junho, o editor de opinião do New York Times, James Bennet, pediu demissão após gerar uma crise no jornal e entre os leitores devido à publicação de um texto em que o senador republicano Tom Cotton clamava pela intervenção de tropas federais para conter as manifestações que se espalham pelo país. O texto, que Bennet admitiu não ter lido antes da publicação, continha erros. O New York Times se retratou, dizendo que, “em alguns pontos, o tom do artigo é desnecessariamente severo e fica aquém da abordagem cuidadosa que promove o debate útil”. Feitas essas ressalvas, contudo, não deveria ser causa de celeuma a abertura de espaço numa publicação para vozes divergentes.
Em 7 de julho, a Harper’s Magazine publicou um manifesto assinado por mais de 150 escritores, artistas e intelectuais, entre os quais Noam Chomsky, Salman Rushdie, J. K. Rowling e Margaret Atwood. O manifesto, intitulado Uma Carta sobre a Justiça e o Debate Aberto, lamentava o clima de intolerância com relação a opiniões divergentes e a detestável “cultura do cancelamento”, que prega o boicote a marcas e pessoas com atitudes tidas como inadequadas. Essa aversão ao pluralismo, quando atinge a imprensa profissional, só aumenta naqueles que a criticam a sensação de enviesamento dos jornalistas.
Situação semelhante é observada no ambiente acadêmico, amplamente dominado por liberais, o que não é, em si, um problema. Historicamente, a academia é um indisputável território liberal, e é bom que seja assim. Mas a proibição de palestras de conservadores nas grandes universidades ou as manifestações violentas contra palestrantes convidados, como ocorreu com a advogada e comentarista Ann Coulter na Universidade da Califórnia em Berkeley, em novembro de 2019, reforçam a convicção de que a guerra cultural está mais acirrada do que nunca.
Nem todos os que aceitam como verdade as absurdas teorias conspiratórias ou conseguem engolir as mais de 20 mil mentiras ou meias verdades ditas por Trump, em menos de quatro anos de governo – segundo levantamento do Washington Post –, são movidos pelo ódio aos adversários políticos ou por obediência cega a radicais. Entre eles, há malucos e desequilibrados, mas também cidadãos bem-intencionados, às vezes com forte sentido patriótico, que apenas desejam participar do debate público. A desconfiança que têm da imprensa acaba afastando-os do jornalismo profissional e fazendo deles presas fáceis de radicais que os estimulam a buscar a “verdade” na internet, no mundo dos canais alternativos, sem lei, sem checagem e, portanto, extremamente perigosos.
Exemplo disso é Edgar Maddison Welch, um homem religioso, pai de duas meninas, que vivia tranquilamente em Salisbury, na Carolina do Norte, até resolver invadir, em 4 de dezembro de 2016, a pizzaria Comet Ping Pong, em Washington, com um rifle AR-15, um revólver Colt .38, uma escopeta e uma faca dobrável. O que teria levado um pacato pai de família de 28 anos a dirigir cerca de 600 km para tomar de assalto uma pizzaria?
Uma das teorias conspiratórias em circulação nos Estados Unidos dizia que Hillary Clinton comandava, a partir do porão da pizzaria invadida por Welch, um antro sexual onde crianças eram mantidas como escravas e seviciadas por grandes capitalistas e figurões do governo. A história começou a ser ventilada quando o WikiLeaks vazou milhares de mensagens de John Podesta, ex-chefe de gabinete do presidente Bill Clinton e conselheiro de Obama. No pacote, havia um e-mail em que Podesta convidava algumas pessoas do Partido Democrata para comer uma pizza na Comet Ping Pong. A partir desse fiapo de informação foi criada a teoria conspiratória, que recebeu o nome de #pizzagate em fóruns e sites conservadores. Foi se tornando cada vez mais delirante, a ponto de dizer que os frequentadores da pizzaria também eram satanistas e que Podesta usava linguagem cifrada nos e-mails: cheese (queijo) era a senha para meninas e “pasta”, para meninos.
Após invadir o restaurante, Welch constatou que era um estabelecimento perfeitamente normal, onde não havia sequer um porão. Welch atirou na fechadura de um armário onde ficavam computadores, pensando tratar-se de uma porta, deixou as armas no local, saiu e se entregou à polícia. Foi condenado a quatro anos de prisão. Ao New York Times, declarou que “as informações sobre o local não estavam 100% corretas”. Sim: o homem que a caminho da pizzaria chegou a gravar uma mensagem de despedida para as filhas, garantindo que um dia elas sentiriam orgulho dele, parecia, ao menos no momento de sua prisão, ainda acreditar no boato.
Se um sujeito como Welch esteve próximo de cometer um ato extremo estimulado por uma teoria conspiratória, o que esperar do restante da população ao ver seu presidente minimizando os riscos de uma pandemia, desprezando a necessidade do uso de máscaras ou forçando a reabertura de escolas e estádios? Como evitar que o discurso do medo adotado por alguns políticos e influenciadores digitais não acabe mexendo com a insegurança de uma fatia da população que percebe as transformações sociais e as mudanças de valores como ameaça?
Windermere, a cidade em que vivo na Flórida, embora apresente uma renda familiar anual acima da média nacional, não deixa de ser um significativo microcosmo dos contrastes dos Estados Unidos. Sua população de cerca de 3,5 mil habitantes é composta majoritariamente por brancos nascidos no próprio país, mas o número de imigrantes não para de crescer. Os latinos e asiáticos – indianos, em especial – estão espalhados pelos diversos condomínios da região, bem como os negros, em menor número.
Do meu quintal, posso observar a dinâmica social dessa extraordinária e autêntica nação de imigrantes que são os Estados Unidos. Meus vizinhos do lado direito são indianos com dois filhos pequenos que até 2016 viviam em Nova York. No lado esquerdo, moram um bombeiro aposentado de Chicago e sua mulher, que vieram para cá a fim de ficarem perto de seu local de devoção: a Disney. A casa em frente é ocupada por três gerações de uma família de indianos que imigrou há dois anos. Do lado esquerdo dessa família, vive um casal de canadenses de Montreal com sua filha adolescente e, do lado direito, um casal norte-americano de professores universitários. Talvez por desconfiarem que política não é um assunto adequado para a construção de boas relações comunitárias, meus vizinhos evitam falar sobre as próximas eleições, mas é fácil adivinhar as predileções de cada um. Viver nessa versão reduzida do cenário social do país me possibilitou ter uma visão diferente e mais completa dos Estados Unidos.
No Brasil, basta andar pelas ruas para constatar a estarrecedora desigualdade social. Aqui, as desigualdades existem, mas são menos evidentes. É necessário algum tempo para que nosso olhar fique treinado e consiga captar como a hierarquia molda as diferentes vizinhanças. A primeira coisa que se aprende sobre os suburbs (subúrbios) norte-americanos é que, como conceito, eles são bem diferentes do que costumamos chamar de subúrbio no Brasil. Aqui, são regiões onde vivem pessoas com poder aquisitivo e que optaram por morar afastadas dos grandes centros, a fim de terem tranquilidade e espaço. O equivalente aos subúrbios brasileiros nos Estados Unidos são as inner cities (áreas profundas das cidades), bairros em locais menos nobres das metrópoles, onde vivem os pobres.
Pode-se traçar uma linha do tempo habitacional de uma família que progride financeiramente. Quando ainda estão solteiras, as pessoas em geral moram nas grandes cidades. A chegada do primeiro filho em geral decretará a ida para os subúrbios, onde a família morará primeiro num prédio de dois ou três andares, depois numa townhouse (casas geminadas de dois ou três andares) e, por último, numa single-family unity (unidade de família única), a tão sonhada casa em terreno próprio. A partir daí, se a família continuar obtendo sucesso financeiro, ela ampliará o tamanho da casa, ou mudará para uma melhor, com atrativos como piscina ou vista para um lago.
Para identificarmos uma comunidade mais pobre nos subúrbios, não adianta dirigir o olhar para o estado das ruas, praças e calçadas, que na região central da Flórida são quase sempre impecáveis. O segredo é reparar em outros detalhes, como, por exemplo, o estado de conservação dos carros e da própria casa, e se os carros estão estacionados fora ou dentro das garagens (se estão fora, é provável que a garagem tenha sido transformada num quarto para abrigar alguém da família ou ser usada como uma subunidade de aluguel).
Por causa dessa relativa uniformidade do local onde moro, não pude deixar de ficar desconcertado com o belo filme Projeto Flórida, dirigido por Sean Baker, sobre um grupo de crianças que vive com seus familiares em quartos de um decadente hotel na região de Kissimmee, na Flórida, bem próxima ao parque Magic Kingdom, da Disney. São comoventes as imagens das crianças vendo, como sempre fazem à noite, os fogos de artifício do parque no qual dificilmente colocarão os pés. Até então eu não sabia que a não mais do que cinco minutos da minha casa existiam pessoas vivendo em condições tão difíceis.
A questão racial, por outro lado, é muito mais explícita por aqui. Quase todas as semanas eu passo de carro pelo Martin Luther King Boulevard, uma estrada importante, com grande fluxo de veículos, e sempre me choca ver uma imensa bandeira confederada tremulando no mastro de um terreno particular. O contraste entre a placa que ostenta o honorável nome da rodovia e o símbolo racista fincado numa casa escancara a velha guerra fratricida que parece não ter fim.
A guerra cultural também está cada vez mais escancarada no cotidiano. Outro dia, parei atrás de um carro, no qual havia um adesivo dizendo, sobre o jornal mais lido da região: “Não acredite no Orlando Sentinel.” Nos jardins das casas, há mares de cartazes com nomes de candidatos, e então é fácil perceber como as coisas estão polarizadas. Algumas das provocações são divertidas, como uma placa que dizia: “Qualquer adulto funcional para presidente em 2020” (frase que tem muitas chances de sucesso nas eleições brasileiras de 2022).
Entretanto, quando as brasas da discórdia que Trump vive atiçando se transformam em labaredas, como aconteceu depois do assassinato de George Floyd por policiais, eu percebo bem depressa que moro num estado do Sul dos Estados Unidos.
Na primeira noite de manifestações, um dos grupos de WhatsApp do qual faço parte e cujo tema central é o futebol americano começou a ser inundado com fotos e vídeos de invasões de propriedade. Quase todas as imagens eram claramente forjadas, mostrando confrontos antigos e até ocorridos em outros países (no Brasil, inclusive). Minutos depois, um integrante do grupo afirmou que algumas das imagens haviam sido feitas em Winter Garden, uma comunidade vizinha a Windermere. Foi a senha para muitos dos integrantes passarem a postar fotos de seus armários recheados de armas de todos os calibres. Alguns aproveitaram para poli-las, carregá-las e deixá-las sobre a mesa de salas e escritórios. Na tentativa de aliviar a tensão com uma dose de humor, enviei a foto de um quimono de judô. Quase ninguém entendeu a piada, e os que entenderam provavelmente passaram a me considerar um liberal idiota e frouxo.
Uma das boas novidades surgidas nesses tempos distópicos da política norte-americana é o programa United Shades of America (Tons unidos da América), da CNN, com o comediante e provocador W. Kamau Bell. O apresentador percorre várias regiões do país para conversar com pessoas menos óbvias sobre temas que vão da educação à ecologia, do mercado de trabalho ao urbanismo, tendo sempre a questão racial como pano de fundo. Seu objetivo é, por meio de um debate construtivo, recheado com boas doses de humor involuntário, tentar entender como os Estados Unidos chegaram à atual situação.
Nem a Ku Klux Klan escapou de Bell. Em um dos programas mais comentados, o apresentador, que é negro, acompanhou a repugnante cerimônia noturna em que racistas queimam uma cruz. Um negro participando de uma cerimônia da KKK é, diga-se de passagem, outro exemplo dos contrastes atuais do país. No entanto, mais importante do que a coragem e a civilidade de Bell são as conclusões que ele tira das conversas. Uma das mais instigantes foi a de que o maior problema dos Estados Unidos não são os supremacistas brancos, que sempre existiram e continuarão a existir, mas a supremacia branca. São coisas bem diferentes.
Há muito tempo racistas deixaram de ser um segmento majoritário da população, basta recordar as duas eleições vencidas por Obama. O verdadeiro problema são as políticas usadas sistematicamente para manter as minorias longe do poder, como a progressiva expulsão dos pobres de seus bairros quando estes passam por modernizações, os entraves para o registro de eleitores de classes sociais baixas e o gerrymandering – o processo de manipulação das fronteiras das zonas eleitorais de forma a concentrar grande parte dos eleitores negros e latinos num mesmo distrito, tornando mais fácil a captura dos demais distritos por candidatos brancos. Num sistema eleitoral em que a quantidade total de votos é menos importante do que a obtida nos distritos ou no colégio eleitoral, a prática revela-se infame. Hillary Clinton, por exemplo, teve quase 3 milhões de votos a mais do que Trump e ainda assim perdeu a eleição, pois foi derrotada pela soma de votos dos estados, que têm pesos desproporcionais à quantidade de habitantes.
A guerra cultural e as incongruências do sistema político norte-americano se refletem nos três poderes – o que deixa tudo ainda mais complicado. No âmbito do Poder Executivo, basta lembrar que os dois últimos presidentes republicanos (George W. Bush e Donald Trump) chegaram à Casa Branca sem que tivessem a maioria dos votos. No Legislativo, os republicanos controlam o Senado por causa do grande número de estados conservadores, que são, porém, menos populosos. Com isso, também controlam o Poder Judiciário, já que os nomes dos novos integrantes da Suprema Corte e das altas cortes, após serem indicados pelo presidente, têm que ser aprovados pelos senadores.
O país cuja democracia sempre foi exemplo para o mundo se vê, assim, diante de uma situação basicamente antidemocrática: o Partido Republicano ocupa a Presidência com menos votos do que o Partido Democrata; controla o Senado por meio de representantes de estados com menos eleitores do que os que elegeram democratas; e comanda a Suprema Corte graças ao poder exercido nela pela Presidência e pelo Senado. A democracia, que deveria ser o governo da maioria, aqui tem se tornado cada vez mais o governo da minoria.
O lance mais recente dessa luta desequilibrada é a correria dos republicanos para aprovar o nome de uma católica ultraconservadora, Amy Coney Barrett, para a vaga aberta na Suprema Corte com a morte da juíza liberal Ruth Bader Ginsburg. A pressa revela o escancarado oportunismo dos republicanos que, em 2016, se recusaram a analisar a indicação de Obama do juiz Merrick Garland para integrar a Suprema Corte, alegando que faltavam apenas oito meses para a eleição presidencial e seria mais adequado que o próximo presidente eleito indicasse o novo nome. A questão central, que agora ficou mais que evidente, não era o respeito à soberania popular, mas sim a inclinação liberal de Garland.
Com maioria de seis votos contra três na Suprema Corte, os republicanos estarão desimpedidos, mesmo se Trump não for reeleito, para derrubar a lei de reforma da saúde pública promulgada em 2010 (conhecida como Obamacare) e alterar decisões históricas em favor das mulheres, de minorias e do livre acesso ao voto. Além disso, essa corte tão enviesada poderá ajudar Trump em sua tentativa de cancelar os votos por correio (que deverão ser majoritariamente democratas), o que ele ameaçou fazer, caso perceba que perderá a eleição.
Um Judiciário amigo também poderá ajudar Trump a se livrar de graves problemas com a Receita Federal, depois da revelação do New York Times de que o presidente não pagou impostos federais em onze dos últimos dezoito anos, exceto 750 dólares em 2016 e outros 750 dólares em 2017. Além disso, noticiou o jornal, muitos dos negócios de Trump geraram prejuízos imensos, o que o ajudou a obter um abatimento de 72,9 milhões de dólares nos impostos – desconto que está sendo investigado pela Receita.
O caso é, sem dúvida, uma bomba lançada sobre Trump, mas fica a questão: Será que os seguidores dele mudarão o voto por causa disso? O simples fato de o país se colocar essa dúvida já demonstra o quanto está dividido pela guerra cultural – a ponto de fatos graves e concretos se transformarem, para alguns, em meros detalhes.
No fim das contas, restam apenas dois caminhos. Um é seguir o comediante W. Kamau Bell e buscar o diálogo, esforçando-se por compreender o que passa na cabeça de quem está do lado oposto, sem jamais abrir mão da resistência cívica e do bom debate político. Outro é acompanhar a vizinha, que transforma uma simples ida ao supermercado numa batalha pela alma dos Estados Unidos.
Vivendo no coração da Trumplândia, e embora tomado pelo pessimismo com a quadra difícil que o país atravessa, cheguei à conclusão de que o único caminho que evitará colocar em risco a fragilizada democracia do país – e, consequentemente, as democracias do mundo – é o do entendimento. Durante as eleições de 2016, uma das palavras mais usadas foi bigotry (intolerância). Na atual eleição, vêm se destacando dois termos que trazem a esperança, talvez tola, talvez infundada, em um país menos fraturado: vaccine (vacina) e reckoning (reconciliação). São duas palavras que compõem uma mesma ideia. A única vacina possível para os males morais dos Estados Unidos não poderia ter outro nome que “reconciliação”.
No dia 29 de setembro, meus vizinhos de Windermere se prepararam para o debate de Donald Trump e Joe Biden como se fossem assistir ao Super Bowl, o jogo final do campeonato da principal liga de futebol americano dos Estados Unidos. Com uma única diferença, própria da guerra cultural: os trumpistas já davam como certo que Trump desestabilizaria Sleepy Joe (Joe Soneca), como chamam Biden, logo nos primeiros minutos. Já os defensores do democrata estavam seguros de que o Orange Man (Homem-laranja) seria uma presa fácil para o tarimbado e decente ex-vice-presidente de Obama. Essas opiniões não mudaram um centímetro após a confrontação dos dois, que já entrou para a história como os piores noventa minutos televisivos de uma campanha presidencial nos Estados Unidos. A veterana comentarista Dana Bash, da CNN, pôs de lado sua habitual elegância para classificar o evento como um shit show, expressão que dispensa tradução.
No grupo de WhatsApp da minha vizinhança, entretanto, o debate foi percebido como algo divertidíssimo, um grande momento de entretenimento, especialmente entre os adoradores de Trump. Da mesma maneira que o candidato deles fez com Biden, eles não pararam por um segundo sequer de interromper qualquer tentativa de conversa civilizada com memes e comentários absurdos. “Joe Soneca está usando ponto eletrônico”, disse um deles. “Eu acho que montaram um teleprompter para ele. Repare como olha sempre para frente e nunca para o Trump”, garantiu outro, desconsiderando que o recurso de se dirigir diretamente ao público eleitor foi um dos pontos fortes da atuação de Biden no debate. “O velhote claramente está dopado”, comentou um médico, do alto de seus conhecimentos científicos (esse mesmo médico enviou, minutos depois, uma longa mensagem, festejando que em determinado dia e hora Trump enviaria mensagens por celular e pela tevê decretando lei marcial e toque de recolher no país, com o objetivo de silenciar as manifestações do Black Lives Matter e promover a vacinação de toda a população contra a Covid-19).
Na manhã do dia seguinte ao debate, deparei com o tal médico instalando uma placa com os nomes de Donald Trump e Mike Pence no gramado do jardim frontal de sua casa. Graças à guerra cultural, a reconciliação pregada por Biden e outras vozes progressistas vai demorar um pouco mais para chegar ao meu condomínio.
Dois dias depois, o presidente anunciou que ele e a primeira-dama, Melania Trump, estavam com Covid-19. A notícia complicou ainda mais o já caótico processo eleitoral, mostrando, outra vez, que o ano de 2020 não está para brincadeira. Como as pesquisas indicam que o pior ponto de avaliação de Trump é a gestão da pandemia, a aposta contra os maskers pode ter lhe custado caro.
No primeiro grande discurso de sua carreira, durante a Convenção do Partido Democrata de 2004, Barack Obama, ainda senador de primeiro mandato por Illinois, afirmou que não existia “um Estados Unidos progressista e um conservador, e sim um Estados Unidos da América”. E completou: “Não há um Estados Unidos negro, um branco, um hispânico e um asiático, e sim um Estados Unidos da América.”
No pronunciamento da vitória em 2012, Obama sabia que não seria suficiente adotar o tom do discurso de 2004 nem emular, como fez em outra ocasião, as palavras de Martin Luther King que foram o grande mote da luta pelos direitos civis: “Nós conseguiremos superar.”
Com profunda compreensão do que estava em jogo, Obama adotou então um tom mais sombrio, embora conciliador e otimista: “A democracia, numa nação de 300 milhões de pessoas, pode ser barulhenta e confusa e complicada. Temos nossas próprias opiniões. Cada um de nós tem crenças profundamente arraigadas. E, quando atravessamos tempos difíceis, quando temos que tomar grandes decisões, como país, isso necessariamente desperta paixões, desperta controvérsias. Isso não vai mudar depois desta noite. E não deveria.” Talvez a grande virtude de Obama seja entender que as pessoas resistem às mudanças porque têm apego emocional a um país que não existe mais, que na verdade nunca existiu, exceto nos filmes antigos, que obviamente não contavam a história das minorias.
Discursos de estadistas como Obama sempre contêm belas palavras. Mas é prudente buscar socorro nos escritores que possuem o talento de explicar, de forma mais livre e imaginativa, as principais questões da humanidade. Em 1943, no auge da Segunda Guerra Mundial, o escritor E. B. White foi convidado pelo Conselho de Guerra dos Escritores dos Estados Unidos a fazer um breve texto em resposta à questão: “O que é a democracia?” Seu texto é considerado até hoje uma das maiores reflexões sobre o sentido dessa coisa tão barulhenta e confusa e complicada.
Escreveu White:
Certamente, o Conselho sabe o que é a democracia. É a fila que se forma sem confusão. É o “não” em “não empurre”. É o furo no saco de cereais que vaza lentamente; é um amassado na cartola. Democracia é a suspeita recorrente de que mais da metade das pessoas está certa mais que a meta-de do tempo. É a sensação de privacidade na cabine eleitoral, a sensação de comunhão nas bibliotecas, a sensação de vitalidade em toda parte. Democracia é a carta ao editor. Democracia é o placar na nona e última entrada de um jogo de beisebol. É uma ideia que ainda não foi desmentida, uma canção cuja letra não desandou. É a mostarda no cachorro-quente e o creme no café racionado. Democracia é um pedido do Conselho de Guerra no meio da manhã, no meio de uma guerra, querendo saber o que é a democracia.
White expõe em termos muito concretos e precisos como a democracia é feita do respeito às leis, à vontade livre dos cidadãos, expressa pelo voto. Se os agentes da guerra cultural não reduzirem a intensidade do seu ódio, o farol dessa grande nação – que em seus 244 anos jamais teve um regime ditatorial – pode em breve deixar de lançar luz sobre o mundo.
Em 17 de agosto, poucas semanas antes de completar 3 anos, meu filho Arthur começou a frequentar a escola. Até hoje não sei como conseguimos convencer alguém tão pequeno a usar uma máscara facial, embora fosse uma exigência mais do que compreensível. A vontade de conhecer novos amigos venceu o incômodo e, no primeiro dia de aula, era como se a gente pudesse ver claramente o sorriso das crianças por trás das máscaras, um dos símbolos de um ano tão complexo.
A turma de Arthur tem nove crianças e, para nossa alegria, é um arco-íris de etnias, religiões e trajetórias. Nosso brasileiro-americano dá seus primeiros passos na vida de estudante ao lado de uma menina e um menino latinos, um garoto italiano, uma menina negra com o dobro da altura dos demais (o pai jogou na NBA, a liga nacional de basquete) e um pequeno inglês, entre outros. A professora é escocesa e o professor-assistente, nativo-americano, cujas origens remontam aos iroqueses. Entre eles, apenas harmonia, diversão, carinho e respeito.
Ao ver naquele grupo de crianças uma representação significativa desse país tão diverso, rico e complexo – embora relutante em aceitar que foi, é e sempre será uma nação de imigrantes –, eu compartilhei do otimismo do meu amigo que fugiu do Alabama para Washington. E me lembrei de Americanos, uma canção de Caetano Veloso: Os americanos representam grande parte da alegria existente neste mundo. A canção diz também, no final: Americanos sentem que algo se perdeu, algo se quebrou, está se quebrando. No próximo dia 3 de novembro, os Estados Unidos decidirão quais versos de Caetano Veloso irão prevalecer nos próximos tempos. - (Fonte: Revista Piauí - Aqui).
................
(Marcos Caetano é especialista em comunicação, comentarista esportivo e colunista do Meio e Mensagem).
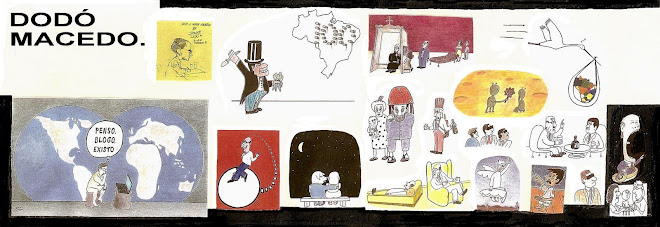

Nenhum comentário:
Postar um comentário