Com a morte de Tancredo Neves (21.04.1985), José Sarney tornou-se o primeiro presidente civil do Brasil, após quase 21 anos do golpe militar.
Levando as palavras a sério: um golpe é um golpe
Mais uma vez, um ministro do Supremo Tribunal Federal pretende reescrever a história brasileira
Por Cristiano Paixão, Marcelo Andrade C. de Oliveira e Menelick de C. Netto
Em seminário sobre os 30 anos da Constituição, realizado na Faculdade de Direito da USP, o ministro Dias Toffoli, Presidente do Supremo Tribunal Federal, afirmou que “não me refiro nem a golpe, nem a revolução de 64. Me refiro a movimento de 1964".
Seria irônico, se não fosse trágico, que essa manifestação tenha ocorrido exatamente às vésperas da data em que a Constituição de 1988 completa 30 anos. O conteúdo e o desdobramento do discurso do min. Toffoli são perturbadores.
O golpe de 1964
Com essas palavras, mais uma vez, um ministro do Supremo Tribunal Federal pretende reescrever a história brasileira, menosprezando, com supostas “críticas à esquerda e à direita”, a ruptura institucional desferida entre os dias 31 de março e 1º de abril de 1964, que, com militares marchando pelas estradas e nas ruas, culminou com a declaração de vacância do cargo de Presidência da República, pelo então presidente do Congresso Nacional, Auro Moura Andrade, apelidado de “canalha” por Tancredo Neves, quando o presidente João Goulart, eleito democraticamente, ainda se encontrava no território brasileiro.
Cabe dizer o óbvio, que a ditadura civil-militar não começou com o Ato Institucional n. 5, a 13 de dezembro de 1968. Basta ler o texto daquele que, embora não numerado, viria ser o Ato Institucional nº 1, assinado pelos “Chefes militares”, em 9 de abril de 1964. Mais do que dar continuidade, ou mesmo instaurar uma disputa política sobre o sentido do que era o direito e de direito – a “retórica bacharelesca”, aliás, é de Francisco Campos – segue-se a referência abusiva e fraudulenta às ideias de “revolução”, de “poder constituinte” e mesmo de “povo”, em que se proclama, contra a Constituição democrática até em então em vigor: “Art. 1º – São mantidas a Constituição de 1946 e as Constituições estaduais e respectivas Emendas, com as modificações constantes deste Ato” (grifos nossos).
Chamar, portanto, de “movimento de 1964”, sob o argumento descabido de tentar igualar, em face da história, esquerda e direita, seguindo a velha teoria dos dois demônios, é, na verdade, escolher um lado, aquele que pretende legitimar a violência e o arbítrio.
A Constituição de 1988: ruptura com o passado autoritário
Além de negar a terminologia histórica adequada para o golpe de 1964, o pronunciamento do min. Toffoli permite uma conclusão assombrosa. Ao normalizar a tomada de poder pelos militares após a deposição de João Goulart, o discurso acaba por ignorar que a atual Constituição, que está prestes a completar 30 anos, representa uma ruptura em relação à ordem jurídica autoritária outorgada pelos atos institucionais, pelos decretos-leis da ditadura e especialmente pela Emenda Constitucional nº 1/69.
Esse debate não é novo, mas merece ser recapitulado aqui. Desde o início dos trabalhos constituintes, em fevereiro de 1987, militares e civis que ocupavam cargos de relevo no governo Sarney começaram a procurar interferir no processo de elaboração da constituição, apontando seus “excessos”, que conduziriam o Brasil a um quadro de “ingovernabilidade”. As reuniões ministeriais eram utilizadas para que esses setores demonstrassem seu inconformismo. Entrevistas e pronunciamentos em off advertiam para os riscos decorrentes de uma Constituinte que estaria indo longe demais.
Foi quando o então ministro da Justiça, Saulo Ramos, enunciou sua tese: por haver sido convocada por meio de Emenda Constitucional (a EC 26/85), a Constituinte de 1987-1988 não seria originária, mas disporia apenas do poder constituinte derivado. Segundo Saulo Ramos – que não falava apenas em nome pessoal, mas articulava juridicamente uma pretensão política de civis e militares insatisfeitos com o rumo da Constituinte –, a Assembleia de 1987/1988 teria apenas o poder de emendar o texto da Emenda Constitucional nº 1/69.
Numa manifestação enfática, o Relator Geral da Constituição, Bernardo Cabral, refutou essa tese. Ele deixou claro que a EC 1/69, outorgada por três ministros militares quando o Congresso estava fechado pelo AI-5, jamais poderia ser um parâmetro para os trabalhos da Constituinte de 1987/1988. O golpe de 1964, segundo Cabral, produziu um “vazio”. Apenas mediante a ruptura com o passado autoritário, iniciado com o golpe, seria possível produzir um novo texto constitucional.
Portanto: não houve “transição pactuada”, não houve “conciliação”. Houve, em 1987-1988, a ruptura com todo o legado autoritário iniciado em 1964. É exatamente por isso que a palavra “conciliação”, no sentido político, está inteiramente ausente do texto da Constituição. E é também por isso que, no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a Constituição estabelece reparação aos atingidos “por atos de exceção”, desde 1946 até 1988 (compreendendo, assim, todo o período da ditadura militar).
Fica claro então que o Constituinte de 1987-1988, ao lidar com um passado que era recente, marcou a diferença entre uma Constituição democrática (que estava sendo feita) e a ordem jurídica autoritária (que precisava ser superada). A única “normalização” possível era a afirmação da democracia. E isso só poderia ser feito com a consciência de que o fato ocorrido em 1964 – cujas consequências se estenderam, no mínimo, até 1985 – foi um golpe de estado.
O risco do poder moderador
O ministro Dias Toffoli atribui legitimidade ao golpe de 64 ao focá-lo como ato de um poder moderador exercido pelos militares na tutela de uma nação infantilizada, o que, ao seu ver, somente tornou-se problemático quando de sua permanência. A teoria do poder moderador, criada por Benjamin Constant, foi uma tentativa doutrinária de neutralizar o papel central atribuído ao rei pela constituição da restauração na França. Ao monarca, segundo essa doutrina, caberia apenas reinar, representar a nação, acima das controvérsias políticas, a configurar um poder neutro, devendo o governo, o executivo, caber aos ministros que por ele seriam responsáveis perante o parlamento. A Constituição do Império do Brasil, outorgada por Pedro I, adotou o poder moderador, o que não impediu que aqui o monarca tanto reinasse quanto governasse, até o advento da República. Assim é que a República coloca fim a uma monarquia constitucional e não a uma monarquia parlamentar.
A propósito da suave crítica do ministro ao golpe, cabe recordar que a permanência institucional é característica central do STF. Pretender que a guarda da constituição seja equiparada à tutela de uma nação infantilizada ao proclamá-la como um exercício do poder moderador é trair o sentido mais profundo do que a Constituição de 1988 foi capaz de inaugurar: uma comunidade de princípios viva, dinâmica e pulsante, um Estado Democrático de Direito.
Conclusão: sobre os nomes
O que há em um nome? A famosa provocação shakespeariana nos adverte para a importância política e social de denominarmos os fatos que nos antecederam, que produzem efeitos no presente e podem influenciar nosso futuro. O ato de nominar envolve uma tomada de posição. Em direito e na política, conceituar não é apenas descrever: é também produzir sentido, atuar no mundo, colocar-se como sujeito histórico. Quando a Constituição de 1988 se autodenomina uma expressão do Estado Democrático de Direito (art. 1º), suas palavras devem ser levadas a sério. Por essa decisão, muitos sacrifícios foram feitos. Para que esses vocábulos pudessem constar num texto constitucional, foi necessário trilhar um longo caminho rumo a democracia. É por isso que, 30 anos depois, contra todas as tentativas de malabarismo verbal, um golpe continua a ser um golpe e uma Constituição democrática continua a ser uma Constituição democrática.
*O presente artigo está incluído em uma série dedicada aos 30 anos da Constituição de 1988. Este espaço é compartilhado por professores e pesquisadores integrantes do grupo de pesquisa “Percursos, Narrativas, Fragmentos: História do Direito e do Constitucionalismo” (UnB – Programa de Pós-Graduação em Direito, Estado e Constituição), por componentes do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea (CEDEC) e por pesquisadores convidados.
CRISTIANO PAIXÃO – Professor Adjunto da Faculdade de Direito da UnB. Procurador Regional do Trabalho em Brasília. Mestre em Teoria e Filosofia do Direito (UFSC). Doutor em Direito Constitucional (UFMG). Estágios pós-doutorais em História Moderna na Scuola Normale Superiore di Pisa e em Teoria da História na Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris). Coordenador dos grupos de pesquisa “Percursos, Narrativas, Fragmentos: História do Direito e do Constitucionalismo” e “Direito, História e Literatura: tempos e linguagens” (CNPq/UnB). Foi Conselheiro da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça (2012-2016) e Coordenador de Relações Institucionais da Comissão Anísio Teixeira de Memória e Verdade da UnB
MARCELO ANDRADE CATTONI DE OLIVEIRA – Professor Titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da UFMG. Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG. Bolsista de Produtividade do CNPq (1D). Mestre e Doutor em Direito (UFMG). Estágio Pós-Doutoral com bolsa CAPES em Teoria do Direito (Università degli Studi di Roma TRE). Coordenador dos grupos de estudos "Teorias Críticas" e "Políticas da Performatividade". Membro dos projetos de pesquisa "Tempo, Espaço e Constituição" e "Centro de Estudos sobre Justiça de Transição".
MENELICK DE CARVALHO NETTO – Professor Associado da Faculdade de Direito da UnB. Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito, Estado e Constituição da UnB. Professor e Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Cidadania da UnB (CEAM). Doutor em Filosofia do Direito pela UFMG. - (Fonte: JOTA - Aqui).
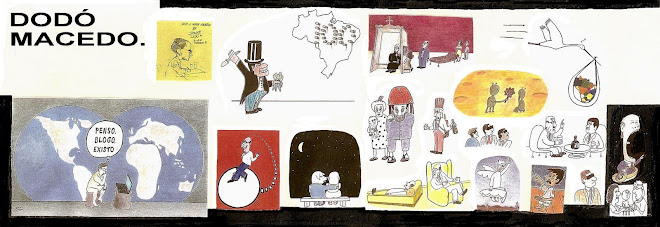

Nenhum comentário:
Postar um comentário