.
"Nos tornamos hippies por causa de Bob Dylan", diz o jornalista Alex Solnik
Petar Pismestrovic. (Áustria).
Navegando pelo Gooble em busca de certa informação, nos deparamos com o texto abaixo, de outubro de 2016, agradável matéria - que nos permitimos compartilhar:
“Na primeira entrevista, ainda um ilustre desconhecido, perguntaram a Dylan se quando ficasse rico e famoso continuaria usando chapéu. ‘Eu nunca vou ficar rico e famoso’ respondeu. Cinco anos depois já tinha um avião particular”, diz Alex Solnik, ao comentar a trajetória de Bob Dylan, o novo Nobel de Literatura; “Viramos hippies por causa de Bob Dylan. Ele era o cara que nunca sorria, o cara sério, tinha aquele olhar de quem sabia o que virá daqui a um século. Um visionário”.
Por Alex Solnik
Imagino os horrores que ele deve ter passado na infância e adolescência. Em qualquer família não é bem aceito quem se desvia do caminho estabelecido pelos pais. Os rebeldes tendem a ser sufocados. Mas numa família de origem judaica de imigrantes da Rússia morando nos Estados Unidos isso é mais dramático ainda. Seus avós fugiram dos pogroms da revolução bolchevique de 1917. Poderiam ser assassinados ou então deportados para a Sibéria.
Exemplifico com o que se deu na minha família. O pai da minha mãe era um próspero comerciante numa cidadezinha da Ucrânia. Não era um barão, apenas estava bem de vida. Pois bem. Grupos bolcheviques invadiram sua casa e sua loja, roubaram todos seus objetos de valor e o enviaram, com a mulher para a Sibéria, como castigo por ter um bom padrão de vida. Minha avó não resistiu ao choque, morreu dois anos depois.
Imigrantes fugitivos num país novo ficam desconfiados de tudo e de todos. Têm pavor de sair fora do que é considerado normal. Uma personalidade rebelde como a de Robert Allen Zimmerman deve ter sofrido uma enorme repressão, o que geralmente provoca isolamento e dedicação a afazeres tipicamente solitários, como escrever. Comigo também foi assim. Eu não me adaptava ao que era exigido de um menino da minha idade e da minha origem, como o comparecimento aos dias de festa e também todas as sextas-feiras à sinagoga. Eu nem tinha opção de recusar. Era ir ou ir. Faltar à sinagoga seria o fim do mundo, a vergonha definitiva diante de toda a família. Sermões intermináveis da minha mãe, acompanhados de puxões de cabelo. Posso supor que na casa de Zimmermann não era diferente.
Eu comecei a escrever poesias muito cedo e ainda me lembro que anotava tudo num caderno escolar de capa verde. Era a reprodução para o papel de versões das canções que eu escutava no rádio. Um detalhe é que aquelas velhas canções eram, em sua maioria, tristes. Se falavam de amor era porque alguém traiu alguém, ou alguém que eu amo desesperadamente não me olha ou então porque eu tinha um grande amor e ele me abandonou.
Junto dos títulos eu colocava o suposto ritmo em que os versos seriam ouvidos no futuro: valsa, samba-canção, bolero. Eu me isolava para escrever. Não sei se o isolamento levava a escrever ou se escrever levava ao isolamento. Mas havia momentos em que eu achava que poderia passar vários dias sem sair do meu quarto que se localizava no andar superior do sobrado onde eu morava.
Robert Allen Zimmerman não escutava boleros no rádio, como contou, há dois anos, a Robert Love, editor-chefe da AARP The Magazine, dos Estados Unidos:
“Logo no início, antes do rock’n’roll, eu ouvia as big bands: Harry James; Russ Columbo; Glenn Miller. Cantores como Jo Stafford; Kay Starr; Dick Haymes. Qualquer coisa que vinha pelo rádio e a música tocada por bandas em hotéis que nossos pais frequentavam e podiam dançar. Tínhamos um grande aparelho de rádio que parecia uma jukebox, com um toca-discos no topo. Todos os móveis foram deixados na casa pelos proprietários anteriores, incluindo um piano. Este rádio e o toca-discos além de discos de 78 rpm eles também deixaram pra trás. Então quando nos mudamos encontramos essas coisas. Um dos álbuns tinha uma etiqueta vermelha, da Columbia Records. Era Bill Monroe cantando, ou talvez fossem os Stanley Brothers. A gravação era, “Drifiting Too Far From Shore.” Eu nunca tinha ouvido nada parecido antes. Essa especificamente me afastou de toda a música convencional que eu vinha escutando. Para entender isso, você tem que saber de onde eu vim. Eu sou do Norte. Nós ouvíamos rádio o tempo todo. Acho que foi a última geração, ou muito perto da última, que cresceu sem TV. Então o rádio era nossa diversão. A maioria destes programas eram dramas do tipo rádio teatro. Era a nossa TV. E tudo o que você ouvia. E imaginava enquanto escutava. Os cantores que eu ouvia no rádio e com quem me identificava eu nunca tinha visto. Divagava sobre o que estariam usando. Ou como eram seus movimentos. Gene Vincent? Eu o imaginava um sujeito magro, um cara muito alto e de cabelos loiros. O rádio me fez ser o ouvinte que eu sou hoje. Me ajudou a ficar atento às pequenas coisas: o bater da porta; o tilintar de chaves do carro. O vento soprando através das árvores; o canto dos pássaros; passos; um martelo batendo um prego. Sons aleatórios. As vacas mugindo. Eu poderia amarrar isso tudo e fazer uma música. Isso me fez ouvir a vida de uma maneira diferente. Eu ainda ouço alguns desses antigos programas de rádio, e a maioria deles continua no ar. Quer dizer, as piadas podem estar um pouco desatualizadas, mas as situações parecem ser a mesma coisa. Eu não escuto “The Fat Man” ou “Superman” ou “Inner Sanctum” de uma maneira que você poderia chamar de nostálgica. Eles não trazem de volta algumas memórias. Eu apenas gosto deles.
Não sei se ele, aos 12 anos, morando numa cidade de Minnesota soube que um poeta do País de Gales fazia grande sucesso nos cafés de Nova York recitando poemas que hipnotizavam a plateia. O fato é que uns oito anos depois Zimmermann já dava suas primeiras entrevistas à TV e, quando perguntavam seu nome respondia: “Bob Dylan”. Porque ele queria ser Dylan Thomas. Menos mal que a inspiração se limitou aos versos, já que Thomas era um grande beberrão e morreria de cirrose antes dos 40.
Na primeira entrevista, ainda um ilustre desconhecido, ao programa Folksingers Choice da rádio WBAI, de Nova York, em fevereiro de 1962, perguntaram a Dylan se quando ficasse rico e famoso continuaria usando chapéu. “Eu nunca vou ficar rico e famoso” respondeu. Embora já naquela época fosse lacônico é uma de suas entrevistas mais descontraídas, em que não briga com os entrevistadores, o que não seria incomum nos anos e nas entrevistas seguintes.
“Quantos anos você tem”? pergunta a entrevistadora.
“Vinte” responde Dylan.
“Quando você começou a sua carreira”?
“Há três anos, em Minneapolis”.
“No que você trabalhou antes”?
“Há uns seis anos trabalhei num parque de diversões como faxineiro, ajudante de várias coisas. Eles tinham uns números de aberrações humanas, como uma mulher cujo corpo havia sido queimado e que por algum motivo parara de crescer, parecia um bebê. As pessoas pagavam para ver essas aberrações. Isso me marcou muito. Fiz uma canção a respeito, mas não me lembro mais dela”.
“Quer dizer que você fugiu da escola”?
“Eu já tinha fugido da escola anos atrás”.
“Vai gravar um disco pela Columbia”?
“Vou. Em março”.
“Como vai se chamar”?
“Bob Dylan, eu acho”.
No final a moça agradeceu a presença de Dylan e ele devolveu a gentileza:
“Foi um prazer conversar com você”.
Cinco anos depois já tinha avião particular. Bob Dylan tornou-se não apenas o novo nome, mas a nova identidade do poeta adolescente. Estava em Nova York sozinho e se dizia órfão. É compreensível que precisasse romper com o cordão umbilical para crescer, depois de ter cometido o pecado mais grave que se pode cometer numa família judaica: abandonar os estudos.
Levando-se em conta que ir à escola é condição sine qua non de qualquer família, mas sobretudo a judaica, a sua casa deve ter virado um pandemônio quando ele comunicou – se é que comunicou – que abandonara as aulas.
O ar dentro de casa deve ter se tornado irrespirável. Ele deve ter ouvido os piores xingamentos dos pais e dos avós, a começar por “vagabundo” e “sem vergonha”. Não, não se admitia uma criança que não sabia de nada da vida trocar os ensinamentos da escola pelo burburinho das ruas.
A sua carreira foi explosiva. Ele percebeu que não bastava escrever tão bem quanto Dylan Thomas. Se ele quisesse que seus versos chegassem a muita gente não funcionaria fazer recitais. Graças à sua rara inteligência ele descobriu que o jeito de levar seus versos a multidões era colocá-los não dentro de um recital ou de um livro, mas de uma canção. Então aprendeu a tocar violão e gaita em homenagem aos seus poemas.
Era paradoxal observar que ele cantava como todos os outros cantores, mas não era um cantor comum. Ele não interpretava canções tão somente. Aquela era sua vida. Ele cantava o que vivia. A sua vida e a sua canção eram uma coisa só, intrinsecamente ligadas. Indissolúveis. Não havia canção em que ele não estivesse inteiro.
Não sei se era isso ou o que era, mas suas canções tinham alguma coisa que tomava a pessoa da cabeça aos pés e a tornava sua escrava. Ele tinha (e ainda tem) o poder de hipnotizar milhares de pessoas ao mesmo tempo, estejam longe ou perto. Não se trata aqui de fãs, mas de profissionais. É fácil notar a mudança na qualidade literária das canções dos Beatles à medida em que assimilavam a influência de Dylan.Começaram dizendo coisas tais como “I love You/ ye, ye, ye” e “I wanna hold your hand” e evoluiram para “I saw a film today, oh boy/ the english army won the war”. Não é difícil perceber que John Lennon passou a imitar Dylan até nas roupas e nos óculos. Paul McCartney declarou: “Dylan é meu ídolo”. Para Ringo Starr, “é nosso herói”. Nada do que se produziu no cenário pop deixou de ter a sua marca depois que ele surgiu.
Cinco anos depois da entrevista à rádio de Nova York ele não dava mais entrevistas exclusivas, mas coletivas de imprensa, tal a sua dimensão, como essa, no lançamento de seu disco “Highway 61 revisited”.
Pergunta de um repórter de óculos e barba:
“Gostaria de saber o significado de sua foto com a camiseta Triumph na capa do disco. Se significa algo, se encerra uma filosofia”?
Dylan esboça uma risada, apoia o queixo na mão, visivelmente incomodado com aquilo.
“…e eu gostaria também de saber o que significa para você visualmente, porque você é parte disso”.
“Não reparei nisso tanto assim” responde um Dylan magrinho metido num paletó estiloso, muito cabeludo e cara de quem tinha acabado de acordar “na verdade fizeram a foto um dia quando eu estava sentado numa escada. Não me lembro muito”. (Apanha no bolso interno do paletó uma carteira de cigarros.) Não me preocupo muito com isso”.
“Mas o que me diz da moto como imagem em suas composições”?
Acende o cigarro:
“De certo modo, todos nós gostamos de motos. Eu gosto”.
Uma repórter morena e extrovertida:
“Prefere canções com mensagem sutil ou óbvia”?
“Com o que”???
“Com uma mensagem sutil ou óbvia”.
“Com mensagem… que canção com mensagem”?
“Bem, como ‘Eve of Destruction’ e coisas assim”.
“Que se prefiro que a que”?
“Não sei, se as suas canções têm uma mensagem sutil”.
“Uma mensagem sutil”?
“Bem, se supõe”…
Ela, Dylan e todo o auditório de uns trinta jornalistas caem na gargalhada.
“Onde você ouviu isso”? pergunta Dylan.
“Numa revista de cinema”…
“Meu Deus”!
Um repórter não identificado visualmente:
“Você se considera fundamentalmente um cantor ou um poeta”?
“Me considero mais um artista que canta e dança, cara”!
Outro jornalista, de terno e gravata e cabelo arrumadinho com glostora:
“Sr. Dylan, sei que não gosta de rótulos, provavelmente com razão, mas para nós que já completamos 30 anos poderia colocar-se uma etiqueta e talvez nos dizer qual é o seu papel”?
“Bem, eu me rotulo como alguém bastante abaixo dos 30…e meu papel é ficar aqui todo o tempo que eu precisar ficar”.
Outro repórter sentado à esquerda de Dylan:
“Muita gente o considera o símbolo dos protestos principalmente entre os jovens. Vai participar da manifestação contra a Guerra do Vietnã essa noite no Hotel Paramount”?
“Essa noite estou muito ocupado”.
Não há dúvida que ao dar essa entrevista Dylan estava visivelmente chapado.
Para nós aqui em São Paulo ele já nasceu uma lenda quando o conhecemos. Nem se não quiséssemos não poderíamos não ser influenciados por ele. Não precisávamos nem ouvir suas músicas, mas reproduzíamos suas roupas e suas atitudes. Aquela jaqueta de brim que ele usava virou febre. Sumiu das lojas. Muitos deixaram crescer o cabelo como seu, que parecia black power. Dylan era a voz daqueles que se opunham à guerra e outras violências de estado, como ocorria contra os negros nos Estados Unidos. Dylan trouxe à cena musical um mundo adulto, com dúvidas e interrogações.
Impressionante, pela primeira vez as pessoas ouviam versos de alta qualidade em forma de melodias folk ou rock and roll e os aceitavam. Talvez porque precisassem daqueles versos como nunca. Principalmente aqueles que não concordavam com a violência contra os negros e a Guerra do Vietnã e não sabiam o que dizer. Dylan lhes deu argumentos. Dylan lhes deu voz. Não porque quisesse ser Moisés. Não, ao contrário, ele nunca se deu bem com seguidores, nem os quis. Chegou na hora certa, em que faltava dar uma resposta ao establishment, aos canhões, era preciso encontrar uma forma de não se render. Ele representava a liberdade de escolha de como viver e do que fazer, mas também a liberdade de negar que homens destruam outros homens.
Posso dizer que na minha turma, na grande turma que se opôs à ditadura de 64 havia a tese de que ou você era alienado, e fumava maconha, ou então não era, e entrava para a guerrilha. Dylan mostrou que as opções não são excludentes. Ele fumava maconha – não só fumava como apresentou o primeiro baseado a John Lennon – mas não era alienado. Então nós também podíamos fumar maconha e não sermos alienados. Foi Dylan quem nos disse que maconha não tinha que ser exclusiva das classes mais pobres, enquanto a elite consumia cocaína. Também foi ele quem nos abriu as portas para o LSD. Não que suas poesias dissessem isso, nunca aconteceu. Ele nunca fez proselitismo de coisa alguma. O fato é que nós queríamos ser Bob Dylan e ao aceitarmos alguns de seus hábitos imaginávamos sermos ele. Ele experimentou várias drogas, inclusive heroína, da qual se livrou, o que admitiu numa entrevista gravada: “Gastava 25 dólares por dia”, disse ele.
Fumamos maconha por causa de Bob Dylan. Viramos hippies por causa de Bob Dylan. Ele era o cara que nunca sorria, o cara sério, tinha aquele olhar de quem sabia o que virá daqui a um século. Um visionário.
Eu ficava encafifado com um detalhe naquele tempo: por que os caras do Rolling Stones nunca o homenageavam se o seu nome vinha de sua “Like a Rolling Stone”, embora tivessem colocado a expressão no plural?
Até que um amigo esclareceu: o nome dos Rolling Stones não vem, nem poderia vir de Dylan, porque o grupo é de 1962 e a canção, de 1965. A canção e o nome do grupo foram inspirados numa outra música, composta em 1950 por Muddy Water, chamada “Rollin’ Stone”.
A prova mais eloquente de sua influência e de sua permanência são as frequentes performances de um de seus admiradores brasileiros ao longo dos anos. Enquanto foi senador da República, Eduardo Suplicy cantou várias vezes, inclusive no púlpito do Senado Federal, à capela, desafinando sem se importar com isso o hino libertário “Blowin’in the Wind”.
Seus conflitos com jornalistas são antológicos. Eles querem que ele se rotule, querem que explique o que quis dizer com determinada frase, qual foi a mensagem que quis passar. Dylan nunca levou a sério esse tipo de pergunta. Certa vez um repórter quis saber quantos cantores de protesto ele conhecia: “146”, respondeu ele, contendo o riso. O repórter, sem alterar a voz retrucou: “Exatamente 146”? E ele: “Não, acho que são 147”. Ele é bom nisso. Ele não tem nenhuma pena de repórteres que fazem perguntas idiotas, não faz o gênero “bonzinho”, aquele que é simpático com a imprensa para a imprensa ser simpática com ele. Detona quem tiver que detonar. É a sua grande especialidade. Não esconde o que pensa. Os russos são assim.
Muitos brasileiros tentaram, voluntariamente ou não, ser Bob Dylan. Um deles foi Belchior. Mas é perda de tempo comparar as obras. A de Dylan é uma caudalosa coleção de imagens inesperadas e inóspitas, em sequências que por vezes lembram roteiro de filme e, outras, uma grande reportagem. Belchior nunca chegou às alturas que ele frequenta desde sempre. Poderíamos falar em Raul Seixas, como também em Renato Russo e suas letras quilométricas, nenhum dos dois, no entanto, apresentou algo tão grandioso quanto “Hurricane”, na qual conta a história real do boxeador Rubin Carter, conhecido como “Hurricane”, para ficar apenas em uma de suas obras-primas: - (Para continuar, clique Aqui).
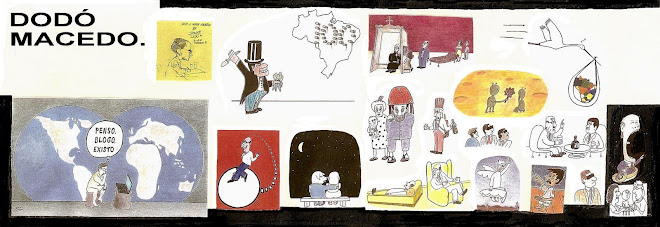


Nenhum comentário:
Postar um comentário