sábado, 19 de julho de 2014
DA SÉRIE COISAS QUE VI NA ÉPOCA DA COPA (III)
Baixo grau de ética nas relações humanas causa judicialização da vida
Por Marco Aurélio Marrafon
Muito mais do que o apego à forma escrita e positivada, o Direito se realiza quando os cidadãos o vivem de maneira efetiva, fazendo com que seus princípios e regras se tornem práticas sociais compartilhadas. Esse é, sem dúvida, o melhor meio para a concretização do projeto constitucional idealizado na Carta de 1988.
Contudo, analisando o contexto atual, é possível constatar outras consequências da nova economia psíquica e da formação do neosujeito hiperindividualista tratado nas minhas duas colunas anteriores: sem o laço ético entre o individual e coletivo, a sociedade brasileira caminha para o distanciamento cada vez maior desse ideal de realização do Direito, o que leva ao fenômeno da “judicialização da vida”.
Duas hipóteses parecem confirmar essa ideia: a primeira delas é a inversão da prioridade entre as diferentes ordens normativas e seu papel de estabilização social, fazendo com que o Direito, que deveria ser a ultima ratio, tenha se tornado a prima ratio na resolução de conflitos. Ou seja, ante a falência dos sistemas normativos gerais, resta a violência institucionalizada do Direito — ou, ao menos, sua ameaça de potencial sanção — como último recurso para resolver controvérsias humanas.
Já a segunda hipótese, decorrente da primeira, é que o componente normativo da sanção está supervalorizado, sobrepondo-se à legitimidade enquanto elemento de garantia de eficácia das próprias normas jurídicas. Isso significa que o aspecto punitivo ganha cada vez mais força no discurso jurídico, reforçando a exigência de uma sanção célere, não importa se violando o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa. O Direito perde seu diferencial em relação às normas sociais. Avancemos nessas premissas.
O Direito como prima ratio
A experiência de viver em sociedade, no seio do que minimamente podemos chamar de civilização, é uma experiência marcadamente normativa. Na vida social, há uma infinidade de normas que regulam as condutas humanas, impondo-lhes limites, estabelecendo obrigações ou proibições ou ainda incentivando ações.
Esse mundo normativo é marcado pela complexidade, com grande multiplicidade de princípios e regras de conduta de diferentes características e matrizes. Norberto Bobbio nos lembra de que há preceitos religiosos, regras morais, sociais, costumeiras, regras de etiqueta e boa educação (ética menor), regras que regulam a relação do homem com a divindade, ou, ainda, do homem consigo próprio, sendo que as normas jurídicas são apenas parte desse conjunto normativo[1].
A ordem moral diz respeito à delimitação do valor da conduta humana, estabelecendo critérios para a delimitação do que é bom/ruim, bem/mal. Kantianamente, entende-se que a moral é primeiramente interna, oriunda da autonomia e liberdade individual do ser humano racional. Sendo de índole intraindividual, a sanção mais comum a ela atribuída é sentimento de culpa, oriundo da violação dos princípios internamente estabelecidos.
A moral interna não se confunde com a ideia de uma ordem moral positiva que, conforme anota José de Oliveira Ascensão, é formada pelo conjunto de regras morais ou vigentes em uma determinada sociedade, com vistas ao aprimoramento e aperfeiçoamento da ordem social[2].
Ora, no contexto da “nova ordem psíquica” tanto a noção de ordem moral interna quanto a concepção de uma moral positiva e social perdem sua capacidade de regulação e controle. A primeira porque o neosujeito — perverso —, ao encobrir o outro e impor suas determinações, tem baixa capacidade de autorresponsabilização, preferindo deslocar o problema e colocar a culpa nos outros. O fenômeno do autoengano, diagnosticado por Eduardo Gianetti, bem demonstra como o sujeito tem a capacidade de mentir para si mesmo — um paradoxo lógico — justamente em face da dificuldade de suportar a culpa por seus erros[3].
Por sua vez, a ideia de uma moral positiva estável que sirva como parâmetro de conduta para a sociedade não mais encontra sustentação em ambiente altamente fragmentário e complexo, marcado pelo individualismo. Como já demonstrado, a reconstrução do laço do sujeito individual com o coletivo ainda é uma tarefa em andamento.
A(s) ordem(s) normativa(s) de índole social e heterônoma, sejam elas religiosas — dependentes da fé individual, mas de características sociais por determinar regras de conduta gerais a partir de critérios transcendentes —, sejam propriamente sociais — usos, costumes, convenções culturais que estabelecem parâmetros de conduta e impõem julgamento/reprovação/sanção imediatos —, também não têm dado conta de operar essa reconstrução do laço coletivo em bases suficientemente eficazes para produzir efeitos em prol da cidadania e da ética da tolerância, diminuindo a necessidade ou a importância do Direito.
Pelo contrário, não raro presenciamos ações fundamentalistas que significam o encobrimento ético do outro: o linchamento — moral, social ou físico — é exemplo clássico de punição extrema, executada pela própria sociedade, que mata o próximo e clama por intervenção jurídica para que seja evitado.
A cultura da litigiosidade se impõe. Nos casos concretos levados diariamente ao Judiciário, é comum o individualismo e a irracionalidade impedirem a composição amigável de litígios.
O resultado é o apego ao Direito como prima ratio: a nova economia psíquica parece prosperar e sobrepor-se a qualquer outro sistema de controle ético-normativo, fazendo com que a ordem jurídica seja o primeiro (quiçá único) sistema normativo com alguma condição de regular condutas, não porque legítima, mas porque ainda conta com a violência estatal como suporte.
Da legitimidade ao primado da sanção
Aprendemos com Herbert Hart que a noção da obrigação — ideia de que onde há direito, a conduta humana é não facultativa —, não deveria ser fundada apenas na previsão das reações psicológicas do destinatário da norma ou na pressão social, mas sim na distinção entre os aspectos interno e externo da posição do sujeito em relação à estrutura social e suas normas, de modo a assentar em outras bases o vínculo de obrigatoriedade[4].
Nessa concepção, o ponto de vista interno é próprio dos que se sentem parte do grupo social e aceitam suas regras como guias de conduta. Já o ponto de vista externo é inerente aos observadores que se referem do exterior às regras de conduta de uma sociedade, ou seja, aferem seu cumprimento e regularidade, mas não se sentem legitimamente atingidos por elas[5].
Ao cooperarem voluntariamente, os observadores internos indicam que reconhecem a legitimidade das regras jurídicas, enquanto que os observadores externos apenas as cumprem quando sujeitos à possibilidade sofrerem alguma espécie de sanção ou castigo.
Eis uma das grandes lições de Hart: a realização do Direito assenta-se no binômio legitimidade-coação, em que a primeira atende aos anseios daqueles que aceitam a obrigação jurídica desde um ponto de vista interno e a segunda é o meio de garantia de cumprimento das leis para os que enxergam a ordem jurídica desde fora, isto é, de um ponto de vista externo.
Em uma civilização perfeita, todos cumprem suas obrigações e não se faz necessária a intervenção violenta do Direito, pois as chamadas regras primárias de conduta são suficientes.
Todavia, em uma sociedade composta por neosujeitos hiperindividualistas, sem culpa nem ordem social que os regulem, a grande maioria coloca-se do ponto de vista externo, levando ao primado da sanção sobre a legitimidade do Direito.
Esse quadro traz consequências drásticas: os sujeitos apenas cumprem as regras ante a possibilidade de sofrer sanções por parte do poder instituído, tornando infinita a demanda serviços judiciários. Não há estrutura processual que aguente, não há juízes, promotores, advogados e policiais suficientes: no limite, todos teriam que desempenhar, ao mesmo tempo, todas as tarefas jurídicas. Todos seríamos juízes e policiais ao mesmo tempo.
O resultado, atual e iminente, é visível aos olhos: i) sobrecarga ética do Judiciário nas demandas sociais; ii) congestionamento processual e lides quase eternas; iii) sentenças não transitam em julgado, levando ao reinado das antecipações de tutela e decisões liminares, iv) juízes assorbebados, sem condições de refletir sobre os casos e as vidas postas em suas mãos e v) predomínio de assessores e estagiários como grandes magistrados das causas.
O paradoxo é que essa situação leva à ausência de eficácia geral do sistema de Justiça e, consequentemente, à perda de credibilidade do próprio Direito ante ao não atendimento das demandas em seu devido tempo.
A sociedade fica sem saída: ou há um resgate ético e os conflitos se revolvem de maneira alternativa ou a cultura da litigiosidade baseada na coação e encobrimento do outro acabará com as possibilidades de uma jurisdição eficaz, tornando o sistema jurídico algo meramente simbólico.
Enquanto isso, o diagnóstico da nova ordem psíquica se confirma e se reforça a cada dia. A vaia da torcida brasileira na execução do hino do Chile durante jogo da Copa do Mundo é apenas mais um dos sintomas dessa perversão democrática. Entre cidadãos sem limites, com tão baixo compromisso ético, a judicialização da vida se revela um caminho sem volta.
[1] BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica. Trad. de Fernando Pavan Baptista e Ariani Bueno Sudatti. 3. ed. Bauru: EDIPRO, 2005, p. 23-26.
[2] ASCENSÃO, José de Oliveira. O direito: introdução e teoria geral. 9. ed. Coimbra: Almedina, 1995, p. 31.
[3] Cf. GIANETTI, Eduardo. Auto-engano. São Paulo: Cia. Das Letras, 1997.
[4] HART, Herber. O conceito de Direito. 3. ed. Trad. A Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 92-99.
[5] Ibidem, p. 99-100. (Fonte: aqui).
Assinar:
Postar comentários (Atom)
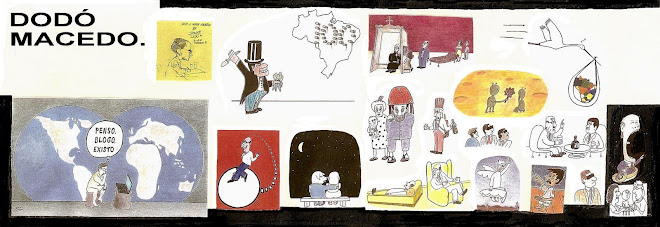

Nenhum comentário:
Postar um comentário