A contribuição de Julian Schnabel à expressão da subjetividade no cinema não é pequena.
Por Carlos Alberto Mattos
Um olho – mesmo o esquerdo – pode operar maravilhas. Foi só isso o que restou de movimentos a Jean-Dominique Bauby depois que ele sofreu um derrame, em 1995. Além, é claro, dos “movimentos” mentais da memória e da imaginação. Bauby era editor da revista Elle, homem sofisticado e atraente, o que lhe garantiu pelo menos um conforto nos dois anos de sobrevida que ainda teria: mulheres lindas ao seu redor.
Quando o filme começa, Bauby está voltando a si de um coma de 20 dias. O espectador é deixado no seu ponto de vista, do leito do hospital, pelos 20 minutos seguintes aproximadamente. É um ato de coragem do diretor Julian Schnabel e do roteirista Ronald Harwood – e também uma senha do que virá. Na maior parte do tempo, estaremos confinados ao ângulo subjetivo do jornalista subitamente paralisado pela síndrome do enclausuramento (locked-in syndrom). Bauby só pode mexer o olho esquerdo – e com ele vai se comunicar e “ditar” o livro.
A mesma síndrome, ainda mais radical, já foi retratada no cinema em Johnny Vai à Guerra, de Dalton Trumbo, em que um soldado ficava completamente enclausurado em seu mundo interior. O protagonista de O Escafandro e a Borboleta ainda dispõe da retina e das pálpebras, que fornecem o habilidoso procedimento de linguagem do filme. E a contribuição que Schnabel faz à expressão da subjetividade no cinema não é pequena.
São raras as cenas que assumem um ponto de vista objetivo sobre Bauby, sendo que muitas dessas referem-se a suas projeções mentais nos vôos de lembrança e fantasia. A câmera é quase sempre seu olho, na percepção embaçada, confusa e limitada do paciente. É quando o filme explora magistralmente o drama cotidiano e miúdo do enclausurado: a impotência para escolher, o subtexto das expressões assustadas de quem chega perto, a condição de virtual ausência que reduz ainda mais o seu papel social.
Além do aspecto visual, a narrativa abraça a subjetividade também no que diz respeito ao texto, todo ele da lavra do próprio Bauby, já que o filme é a história da preparação do livro. No fluxo dos pensamentos o ex-editor destila sua iconoclastia, sua ironia para com as mentiras piedosas que cercam os enfermos graves, sua falta de autopiedade, sua consciência de que a vida está por um fio e que nenhum milagre vai manter esse fio estendido por muito tempo. Bauby não é um herói da “superação” nem da “esperança”, como faziam crer os slogans de venda do filme. O que torna o personagem admirável é sua naturalidade diante das culpas, do medo e da vergonha. Ele não é transformado nem transforma ninguém. Não se trata de um conto moral, mas de um conto real.
Esse realismo, porém, não impede Julian Schnabel de agitar sua vigorosa palheta de recursos audiovisuais muito além do que tinha feito em Basquiat e Antes do Anoitecer. Tanto a angústia do olhar encarcerado quanto a liberdade do olhar imaginado revertem num deslocamento de natureza poética, com laivos até mesmo de uma sensualidade inesperada. É nos cortes entre a subjetividade irreprimível de Bauby e os súbitos retornos à crueza de sua condição que o filme vai construindo esse inusitado instantâneo de uma situação-limite.
A trilha sonora é um atrativo à parte, abrangendo de clássicos a Charles Trenet e Tom Waits. Para o espectador cinéfilo não faltam referências amorosas a Fellini (as mulheres de Oito e Meio) e Truffaut (a abertura de Os Incompreendidos). A insistência de Schnabel em fazer um filme “europeu” – inclusive trocando o inglês do roteiro original pelo francês – afastou O Escafandro e a Borboleta do tom piegas e edificante que certamente teria em Hollywood.
Mathieu Amalric, com seu charme mignon que lembra o jovem Jean-Louis Trintignant, é o intérprete perfeito para as duas faces do personagem. Nunca o piscar de olhos de um ator ganhou tanta importância desde a época do cinema mudo. - (Fonte: Boletim Carta Maior - Aqui).
Quando o filme começa, Bauby está voltando a si de um coma de 20 dias. O espectador é deixado no seu ponto de vista, do leito do hospital, pelos 20 minutos seguintes aproximadamente. É um ato de coragem do diretor Julian Schnabel e do roteirista Ronald Harwood – e também uma senha do que virá. Na maior parte do tempo, estaremos confinados ao ângulo subjetivo do jornalista subitamente paralisado pela síndrome do enclausuramento (locked-in syndrom). Bauby só pode mexer o olho esquerdo – e com ele vai se comunicar e “ditar” o livro.
A mesma síndrome, ainda mais radical, já foi retratada no cinema em Johnny Vai à Guerra, de Dalton Trumbo, em que um soldado ficava completamente enclausurado em seu mundo interior. O protagonista de O Escafandro e a Borboleta ainda dispõe da retina e das pálpebras, que fornecem o habilidoso procedimento de linguagem do filme. E a contribuição que Schnabel faz à expressão da subjetividade no cinema não é pequena.
São raras as cenas que assumem um ponto de vista objetivo sobre Bauby, sendo que muitas dessas referem-se a suas projeções mentais nos vôos de lembrança e fantasia. A câmera é quase sempre seu olho, na percepção embaçada, confusa e limitada do paciente. É quando o filme explora magistralmente o drama cotidiano e miúdo do enclausurado: a impotência para escolher, o subtexto das expressões assustadas de quem chega perto, a condição de virtual ausência que reduz ainda mais o seu papel social.
Além do aspecto visual, a narrativa abraça a subjetividade também no que diz respeito ao texto, todo ele da lavra do próprio Bauby, já que o filme é a história da preparação do livro. No fluxo dos pensamentos o ex-editor destila sua iconoclastia, sua ironia para com as mentiras piedosas que cercam os enfermos graves, sua falta de autopiedade, sua consciência de que a vida está por um fio e que nenhum milagre vai manter esse fio estendido por muito tempo. Bauby não é um herói da “superação” nem da “esperança”, como faziam crer os slogans de venda do filme. O que torna o personagem admirável é sua naturalidade diante das culpas, do medo e da vergonha. Ele não é transformado nem transforma ninguém. Não se trata de um conto moral, mas de um conto real.
Esse realismo, porém, não impede Julian Schnabel de agitar sua vigorosa palheta de recursos audiovisuais muito além do que tinha feito em Basquiat e Antes do Anoitecer. Tanto a angústia do olhar encarcerado quanto a liberdade do olhar imaginado revertem num deslocamento de natureza poética, com laivos até mesmo de uma sensualidade inesperada. É nos cortes entre a subjetividade irreprimível de Bauby e os súbitos retornos à crueza de sua condição que o filme vai construindo esse inusitado instantâneo de uma situação-limite.
A trilha sonora é um atrativo à parte, abrangendo de clássicos a Charles Trenet e Tom Waits. Para o espectador cinéfilo não faltam referências amorosas a Fellini (as mulheres de Oito e Meio) e Truffaut (a abertura de Os Incompreendidos). A insistência de Schnabel em fazer um filme “europeu” – inclusive trocando o inglês do roteiro original pelo francês – afastou O Escafandro e a Borboleta do tom piegas e edificante que certamente teria em Hollywood.
Mathieu Amalric, com seu charme mignon que lembra o jovem Jean-Louis Trintignant, é o intérprete perfeito para as duas faces do personagem. Nunca o piscar de olhos de um ator ganhou tanta importância desde a época do cinema mudo. - (Fonte: Boletim Carta Maior - Aqui).
>>O Escafandro e a Borboleta está na plataforma Belas Artes à la Carte
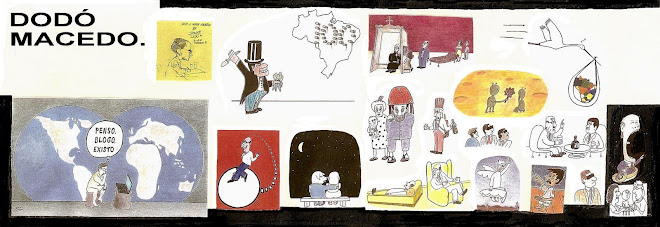

Nenhum comentário:
Postar um comentário