.
O Tribunal Superior Eleitoral enfrenta o maior desafio de sua história
No começo de maio, o ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, recebeu uma mensagem de texto no celular. Era o presidente Jair Bolsonaro. Ele estava irritado com uma passagem em um debate na GloboNews, cujo vídeo viralizara no Twitter. No trecho que incomodou Bolsonaro, os debatedores concordavam que somente a Justiça Eleitoral poderia arbitrar o processo de votação no país, não cabendo, portanto, nenhuma interferência das Forças Armadas. Os comentaristas entendiam que os militares não são um “poder moderador”, com a missão de arbitrar conflitos entre civis – uma tese que o bolsonarismo vem defendendo há anos, mas que ministros do STF já contestaram publicamente. De acordo com uma fonte que teve acesso à troca de mensagens, Bolsonaro, exasperado com a ideia da exclusão das Forças Armadas, escreveu: “O que teme o TSE?”
Em seguida, o presidente lembrou que o próprio Tribunal Superior Eleitoral convidara as Forças Armadas para colaborar no pleito e, inclusive, integrar a Comissão de Transparência das Eleições, com um assento destinado a um representante do Ministério da Defesa – o que é verdade. Diante disso, concluía Bolsonaro, ele próprio, na condição de chefe supremo das Forças Armadas, nos termos da Constituição, deveria acompanhar o trabalho eleitoral de perto.
Gilmar Mendes não é integrante do TSE, mas já presidiu o tribunal duas vezes – a última, entre 2016 e 2018. Durante a sua gestão, recebeu Bolsonaro em seu gabinete para tratar da volta do voto impresso, assunto pelo qual Bolsonaro, então deputado federal, já demonstrava interesse. O ministro costuma receber parlamentares com bloco e caneta na mão, anota demandas e demonstra interesse, o que agrada os políticos. Além disso, Gilmar não era – e continua não sendo – contra o voto impresso per se. Acha que poderia ser adotado em um determinado número de urnas, mas não acredita que haja possibilidade de fraude no atual sistema 100% eletrônico. Depois da eleição de 2018, Bolsonaro e Gilmar voltaram a se falar ocasionalmente. Por isso, a mensagem do presidente não surpreendeu o ministro. Em resposta, ainda segundo a mesma fonte, Gilmar escreveu: “O senhor é chefe das Forças Armadas, mas é também candidato à reeleição e, como tal, pode exigir que haja correção na apuração, mas não pode ser juiz do processo.”
A piauí não teve acesso à réplica de Bolsonaro. Mas o diálogo é mais uma evidência de que, pela primeira vez desde a retomada do regime democrático em 1985, um presidente da República candidato à reeleição hostiliza abertamente a mais alta instância da Justiça Eleitoral e tenta comandar as eleições, minando sua credibilidade com suspeitas de fraudes nunca comprovadas. Por isso, a três meses do pleito presidencial, sob um clima de tensão e insegurança, o TSE vem se preparando como pode para enfrentar o que, por décadas, foi um ritual sereno, eficiente e consensual: apurar milhões de votos eletrônicos, anunciar o vencedor, diplomá-lo e dar-lhe posse.
Dias depois da troca de mensagens entre Bolsonaro e Gilmar, as capas pretas dos sete ministros do Tribunal Superior Eleitoral estavam dispostas lado a lado, sobre os sofás de couro marrom na chamada Sala das Togas. O espaço fica no subsolo da sede do TSE, em Brasília. A decoração é sóbria, com dois tapetes persas e uma mesa usada para apoiar xícaras de café. O presidente da corte, Luiz Edson Fachin, entrou ali pouco antes das 10 horas do dia 12 de maio de 2022. Com as togas já sobre os ombros, todos os ministros atravessaram o corredor com tapete vermelho e entraram no plenário por uma porta corta-fogo. Em fila, esperaram a campainha anunciar o início da sessão, guardando uma liturgia em que ninguém pode passar à frente dos ministros do TSE que são oriundos do STF. Liderando a romaria, Fachin foi seguido por seus pares. Acomodou-se na cadeira de couro vermelho e anunciou a abertura de uma sessão “menos elastecida” que as demais. Estava pronto para protagonizar dois atos inéditos, que começara a gestar quarenta horas antes.
No início da noite de 10 de maio, Fachin visitou, sozinho, a sala onde seriam realizados, a partir do dia seguinte, os derradeiros testes públicos de segurança das urnas eletrônicas. Seriam simulações de ataques cibernéticos e outras operações para detectar a possibilidade de falhas na eleição de outubro. Depois de conversar com técnicos, Fachin decidiu que convidaria os demais ministros para assistir aos testes. Nunca antes, desde que começaram a ser feitos há treze anos, os testes de confirmação foram presenciados por todos os magistrados do tribunal. Era o primeiro ineditismo. Para a ocasião, Fachin começou a preparar um discurso convencional. Mas, no dia seguinte, 11 de maio, soube do pronunciamento que Bolsonaro fizera numa feira agropecuária em Maringá, no Paraná, e passou a considerar uma declaração fora do script. Era o segundo ineditismo.
Diante de uma plateia do agronegócio, Bolsonaro voltara a se eximir de responsabilidade na disparada da inflação e do preço dos combustíveis e, mais uma vez, colocara em dúvida a lisura do sistema eleitoral. Disse que seu governo não aceitava provocações. O destinatário da mensagem era o TSE que, dias antes, rejeitara as sugestões apresentadas pelas Forças Armadas para “aprimorar” o sistema eleitoral – a maioria das quais já estava implementada. Com a caneta Bic aparente no bolso da camisa de mangas curtas, Bolsonaro disse que “todo o cidadão de bem” deve ter “arma de fogo para resistir, se for o caso, à tentação de um ditador de plantão”. Emendou: “Todos têm que jogar dentro das quatro linhas [da Constituição]. Nós não tememos resultados de eleições limpas. Nós queremos eleições transparentes, como a grande maioria ou, por que não dizer, a totalidade do seu povo.”
Ataques ao sistema eleitoral, às urnas eletrônicas e ao próprio TSE não são novidade. Bolsonaro já disse que ganhou a eleição de 2018 no primeiro turno e prometeu apresentar “as provas” da fraude – o que nunca fez. Também já disse que a eleição de outubro só seria possível com a adoção do voto impresso – o que foi derrubado pelo Congresso. Em julho de 2021, fez uma transmissão ao vivo que durou mais de duas horas para apresentar as tais “provas” de fraude nas urnas eletrônicas, e acabou fazendo uma declaração inesquecível na altura do minuto 47 do vídeo: “Não temos provas”, disse. Com esse histórico, Bolsonaro não falou nada de novo em Maringá. Mas, quando recebeu em seu celular uma cópia das notícias sobre a fala presidencial, Fachin enervou-se. Decidiu que, no dia seguinte, na solenidade de teste das urnas no TSE, faria um discurso “um pouco mais endurecido” e que avançasse além da tradicional ladainha de que “atacar a Justiça Eleitoral é atacar a democracia”.
Era perto do meio-dia daquele 12 de maio, e a voz monocórdica de Fachin cumpria o protocolo com um discurso convencional em que agradecia “a esta laboriosa equipe” que acompanhou os testes das urnas eletrônicas. Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, os outros dois ministros do STF que integram o TSE, olhavam seus relógios, impacientes com a hora avançada. Até que um repórter fez a última pergunta. Queria saber se o discurso de Fachin era um recado a Bolsonaro. Sem recorrer a nenhum papel, o ministro começou: “Não mando e não recebo recado de ninguém. Quem defende ou incita a intervenção militar está praticando um ato que afronta a Constituição e a democracia. Portanto, não se trata de recado, é uma constatação fática.”
Até aí, era mais ou menos a velha ladainha. Em seguida, Fachin efetivamente endureceu o tom. Os ministros Moraes e Lewandowski levantaram a sobrancelha. “Quem trata de eleições são forças desarmadas e, portanto, as eleições dizem respeito à população civil que, de maneira livre e consciente, escolhe seus representantes”, disse Fachin. Era um recado a Bolsonaro e à cúpula militar que o rodeia. “A Justiça Eleitoral está aberta a ouvir, mas jamais estará aberta a se dobrar a quem quer que seja [sic] tomar as rédeas do processo eleitoral.” Lewandowski foi o primeiro a estender a mão para cumprimentar Fachin: “Muito bom”, cochichou. Foi seguido por Moraes, que assumirá a presidência do TSE em 16 de agosto.
Os dois ineditismos – a presença de todos os ministros e a resposta forte de Fachin – são sintomas da mesma doença que chegou ao celular de Gilmar Mendes: um presidente que insiste em envolver os militares num processo eleitoral sobre o qual ele vive lançando suspeitas. “O que acho inédito nesta eleição é o fato de ter a possibilidade de reeleição de um presidente da República que escolheu o TSE como seu principal antípoda”, afirma Hélio Silveira, ex-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). “O presidente que está no exercício do mandato acusa o tribunal de estar sendo parcial, e isso é grave. O maior desafio da Justiça Eleitoral neste ano é buscar mecanismos para fugir dessa acusação.” Fernando Neisser, advogado especialista em direito e propaganda eleitoral, faz um acréscimo. Para ele, a maior tarefa do TSE “é garantir a entrega de um diploma a quem ganhar a eleição presidencial e assegurar que essa pessoa assuma o cargo, sem esgarçar ainda mais a imagem da Justiça Eleitoral”.
Entre os sete titulares do TSE, Fachin e Moraes são os mais diferentes em termos de personalidade e ideologia, mas, de modo geral, têm convivido bem na condição de presidente e vice do tribunal. Para além das disputas internas, tão comuns nas cortes superiores, os magistrados tentam mostrar que, sob ataques externos, o plenário está mais unido do que em outros anos, desta vez em defesa da instituição.
Com uma origem ligada à Igreja Católica e aos movimentos sociais, Fachin foi indicado para compor o STF pela ex-presidente Dilma Rousseff, cuja eleição ele apoiou abertamente. Em 2010, fez a leitura de um manifesto de endosso à petista durante um evento com juristas. Chegou ao STF em 2015, na condição de um juiz garantista, adjetivo dado ao magistrado que zela pelo cumprimento minucioso da lei a despeito de clamores populares. Já em sua primeira decisão relevante, votou contra uma demanda do PT sobre o rito do processo de impeachment de Dilma. Tornou-se, desde seu primeiro momento, um aliado da Operação Lava Jato e, por extensão, do então juiz Sergio Moro. (Até hoje, integrantes do partido afirmam que Fachin foi o grande erro que o PT cometeu entre as doze indicações que fez ao Supremo em seus treze anos no governo.)
Em 2016, um ano depois de chegar ao STF, Fachin passou a integrar também o TSE. Ali, costuma ser duro em julgamentos sobre pedidos de cassação e mantém a mesma postura que adota no Supremo, com decisões que tendem a ser mais punitivas e alinhadas com a Lava Jato. Em um caso simbólico e de grande repercussão, ele abandonou sua postura normalmente punitiva, mas manteve-se fiel aos credos “lavajatistas”. Foi o único voto vencido na decisão de 2019 que determinou a cassação da senadora Selma Arruda (Podemos-MT), conhecida como Moro de Saias, porque também trocou a magistratura pela política com o discurso de combate à corrupção. Fachin considerou que as irregularidades não eram suficientes para cassar a então senadora por caixa dois e abuso do poder econômico. Na véspera do julgamento, Moro, então ministro da Justiça do governo Bolsonaro, fez uma visita ao TSE. A integrantes da corte, defendeu a senadora. Convenceu um deles.
De perfil comedido e tino político pouco aguçado, Fachin tem sido considerado um tanto inábil e até intransigente diante das crises, principalmente com as Forças Armadas, como quando se recusou a receber o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, para uma conversa em seu gabinete. Enquanto isso, ministros e servidores do TSE, que pedem para ficar anônimos para não criar mal-estar com Fachin, dizem que Moraes é mais engenhoso no trato com os diferentes atores da República e defende, inclusive, mais maleabilidade na relação com os militares. Se Fachin é citado por colegas como “intransigente, mas educado”, Moraes é lembrado como “troglodita, mas pró-ativo”, aberto ao mundo político, com algum trânsito entre os militares e boas relações com a polícia de São Paulo, cevadas nos dezessete meses em que foi secretário de Segurança Pública no governo de Geraldo Alckmin. Num momento de fricção institucional, esses predicados de Moraes têm sido úteis.
Moraes começou a carreira como promotor de Justiça no Ministério Público do Estado de São Paulo, onde entrou aos 23 anos e em primeiro lugar no disputadíssimo concurso público para a função. De perfil conservador, misturou atuações acadêmicas (é professor livre-docente da Universidade de São Paulo) e política. Foi filiado ao DEM, ao PMDB e ao PSDB. Quando era secretário de Segurança, a polícia paulista foi acusada de excesso no uso da força. Chegou a usar canhões de água para dispersar um punhado de manifestantes na Avenida Paulista. Colocou em rota blindados israelenses para dispersar protestos. Moraes era a favor do uso de balas de borracha por policiais em manifestações.
Empossado como ministro da Justiça no governo de Michel Temer, Moraes chegou a cortar pés de maconha no Paraguai e prometeu acabar com a droga no continente. A cena rendeu-lhe o apelido de “jardineiro paraguaio”. Seu sonho era ser ministro do STF, mas achava que sua vez, se um dia chegasse, seria bem mais tarde. Contudo, no início de 2017, comandava o Ministério da Justiça quando o ministro Teori Zavascki morreu num acidente aéreo em Paraty, no litoral do Rio, abrindo uma vaga no Supremo. Moraes foi indicado por Temer, tomou posse em março e logo passou a integrar também o TSE, onde foi um importante valete nas articulações que culminaram com o adiamento das eleições municipais de 2020 em meio à pandemia, devido ao seu bom trânsito com diversos políticos. Tem fama de xerife, principalmente quando precisa persuadir colegas a concordar com suas posições, mas, durante a crise com militares, tem exercitado um lado mais flexível para manter a ponte com as Forças Armadas.
Sobre a mesa de Christine Peter da Silva, secretária-geral da presidência do TSE, estão os ofícios com as 48 perguntas e sete sugestões que as Forças Armadas enviaram à corte sobre as eleições. Servidora do Judiciário há 23 anos, dezessete elaborando votos de ministros do STF, Silva organiza seu pensamento com destreza e rapidez, como se preenchesse mentalmente as caixinhas de assuntos que sabe que precisa mencionar. Com a voz enérgica, cita dados de memória, mas a autodisciplina a faz recorrer, de vez em quando, aos documentos organizados em seu gabinete para ter certeza do que acaba de dizer. Na estante de sua espaçosa sala, com vista para o Lago Paranoá, uma urna eletrônica modelo 2015 faz as vezes de enfeite ao lado de orquídeas e livros de direito. “É para eu me lembrar sempre onde estou”, diz ela.
Antes de trabalhar com Fachin no TSE, Silva atuou nos gabinetes de ministros como Gilmar Mendes, no STF, e de Ives Gandra da Silva Filho, no Tribunal Superior do Trabalho (TST). Tem opiniões fortes e trabalha em um ritmo obstinado. Trata os colegas com educação, mas alguns reclamam que poderia temperar um pouco a gana com que cumpre as tarefas que lhe são delegadas. E conhece a história de onde pisa. Conta que os militares integraram as equipes de inteligência que conceberam as primeiras urnas eletrônicas, na década de 1990. Desde então, de acordo com o Código Eleitoral, também participam da logística e da segurança dos pleitos. Por isso, Silva acha que o ministro Luís Roberto Barroso não cometeu nenhum erro quando, na condição de então presidente do TSE, convidou os militares a participar da Comissão de Transparência das Eleições, em setembro do ano passado. “Partimos do pressuposto de que os militares nunca iriam fazer nada contra o processo, já que eles eram parte dele”, diz ela.
Foi com a gana conhecida que Silva debruçou-se sobre os ofícios que as Forças Armadas mandaram ao tribunal discutindo o sistema eleitoral. No fim do ano passado, os militares pediram acesso a 27 documentos do TSE, sobre organogramas, política de riscos e programas antivírus, além de outras informações, para embasar as perguntas e sugestões que mandariam à corte. Depois de estudar os documentos, enviaram dois ofícios. O primeiro com 5 perguntas, o segundo com 43. (Silva cita os números de cabeça, mas vai à mesa contá-los, um a um. “É isso mesmo, 48 no total.”) Os dois ofícios chegaram até 17 de dezembro, dentro do prazo concedido pelo tribunal. As respostas foram divulgadas em fevereiro pela corte, embora os militares e o próprio Bolsonaro, ansiosos, cobrassem respostas desde janeiro.
“As perguntas em si não causaram nenhum tipo de assombro”, diz Silva. “Eram perguntas que qualquer interlocutor técnico faria e mereceram a atenção dos nossos técnicos, que trabalharam em cima disso desde o início. O susto, e o que tem gastado praticamente toda a nossa energia, foi a utilização política dessas perguntas.” Em março, as Forças Armadas enviaram mais um ofício, já fora do prazo, com 7 sugestões para o processo eleitoral. Foram todas rejeitadas por Fachin – e 4 já estavam em vigor. A área técnica do TSE, que examinou as sugestões, comentou que os militares cometeram uma série de imprecisões e até “erros grosseiros”.
Desde meados do ano passado, o TSE começou a montar uma estratégia para enfrentar os ataques de Bolsonaro. Durante o recesso do meio do ano, os três ministros do TSE com assento no STF – Fachin, Moraes e Barroso – articularam-se com o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, Luis Felipe Salomão, para tentar neutralizar as investidas de Bolsonaro contra as urnas eletrônicas. Os quatro entendiam que a escalada estava chegando perto do insustentável. No dia 29 de julho, Bolsonaro fez a live de mais de duas horas levantando suspeitas contra o sistema eleitoral. Os ministros perceberam que, se nada fosse feito, Bolsonaro talvez conseguisse até aprovar no Congresso a volta aos velhos tempos do voto impresso, época em que, aí sim, as fraudes eram corriqueiras.
Decidiram atuar em duas frentes. Barroso, então presidente do TSE, enviou uma notícia-crime a Moraes, no STF, para investigar a live de julho e acionou o corregedor Salomão para apurar o caso. Tudo se deu bem rápido: em 2 de agosto, Salomão aprovou em plenário, por unanimidade, a abertura do inquérito administrativo contra Bolsonaro. “O papel do corregedor é fiscalizar e zelar pela isenção da eleição. Se tem alguém contestando, vamos apurar. Não tive dúvida de instaurar o inquérito”, disse Salomão. Segundo o ministro, o aspecto mais relevante das investigações – que ainda estão em curso – foi jogar luz sobre o uso da máquina pública na disseminação de notícias falsas e descobrir que havia pessoas ganhando muito dinheiro com isso. “Colhia-se arrecadação de empresários, os sites cobravam, e não era pouco, para espalhar fake news, e recebiam verba para isso.”
Naquele momento, o inquérito administrativo passou a ser considerado uma espécie de plano B para conter Bolsonaro, algo que poderia virar inquérito judicial e até tornar o presidente inelegível para 2022. (Além disso, Moraes já comandava – como comanda até hoje – o inquérito das fake news, que apura a disseminação de mentiras pelo bolsonarismo, além das investigações sobre a interferência do presidente na Polícia Federal para proteger seus filhos e a associação que fez entre a vacina da Covid e a contaminação pelo vírus HIV.) Os ministros do TSE avaliam hoje que o inquérito administrativo tem “muita munição” para uma eventual cassação do presidente, mas sabem que é praticamente impossível que o registro da candidatura presidencial de Bolsonaro seja rejeitado.
Atualmente, o inquérito administrativo está nas mãos de Mauro Campbell Marques, que sucedeu Salomão como corregedor-geral do TSE. Considerado linha-dura pelos colegas, ele atuou no Ministério Público do Estado do Amazonas, é conservador, religioso e pouco divide os avanços das apurações com os pares. Quando lhe perguntam em que pé estão as coisas, diz apenas: “Estou trabalhando.” Agora em agosto, porém, com o fim do seu mandato, Marques deixará o TSE, a corregedoria e o inquérito nas mãos de Benedito Gonçalves, também oriundo do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Considerado mais maleável e aberto ao diálogo, é um juiz que dificilmente se indispõe com a maioria, mas ninguém aposta que o inquérito terá resultado antes das eleições.
A Justiça Eleitoral brasileira foi fruto da Revolução de 1932, quando o resultado do pleito que dava a vitória a Júlio Prestes foi contestado, sob alegação de fraude. A organização e o comando das eleições passaram então para as mãos do Poder Judiciário, bem estruturado em carreiras e concursos públicos para a seleção de juízes. Fechada durante os oito anos do Estado Novo, a Justiça Eleitoral foi reinaugurada em 1945, mas foi somente depois da redemocratização em 1985 que a corte ganhou mais visibilidade. Desde então, teve uma vida razoavelmente fácil, sem contestações, até 2014.
Naquele ano, com a derrota do tucano Aécio Neves na eleição presidencial, o PSDB contestou o resultado, levantando a suspeita de fraude para beneficiar a petista Dilma Rousseff. Não deu em nada, pois nunca houve um fiapo de prova de irregularidade, mas o caso abriu a primeira fissura na credibilidade da Justiça Eleitoral, o que, na eleição presidencial seguinte, serviria bem aos propósitos de Bolsonaro. O TSE voltaria aos holofotes em 2017, no julgamento sobre a cassação da chapa Dilma-Temer, quando a petista já tinha sido apeada do poder. Também não deu em nada. A decisão mais marcante, porém, veio no ano seguinte, em setembro de 2018, com a cassação do registro da candidatura de Lula, que já se encontrava preso em Curitiba havia cinco meses e liderava as pesquisas de intenção de voto.
Agora, o aumento exponencial da atenção sobre o TSE, seus ministros e suas liturgias também aprofundou a importância das equipes jurídicas das principais campanhas presidenciais. São elas que têm a função de provocar a corte para que o tribunal aja, estabeleça jurisprudência e aprove teses durante os julgamentos. No início do ano, Valdemar Costa Neto, ex-aliado de Lula e hoje presidente do partido de Bolsonaro, pediu uma reunião com Tarcisio Vieira de Carvalho Neto sem adiantar o assunto. Conhecido pelo bom trânsito em todas as cortes e matizes políticos, Carvalho Neto é ex-ministro do TSE e agendou de pronto o encontro em seu escritório de advocacia, em Brasília. Recebeu Costa Neto na sala de reuniões. Sentou-se na cabeceira de uma mesa de dez lugares, contornada por uma estante de madeira escura, com alguns livros de direito simetricamente acomodados nas prateleiras. O presidente do PL, por sua vez, acomodou-se na primeira cadeira à esquerda de Carvalho Neto, e foi direto ao ponto: “Estou aqui com a missão de contratar o seu escritório, por indicação pessoal do presidente Bolsonaro, para comandar o jurídico da campanha dele. E só posso sair daqui com um sim.”
Assinaram o contrato em 18 de fevereiro. Como membro do TSE entre 2014 e 2021, Carvalho Neto conhece muito bem todo mundo da corte, e quem diz isso é todo mundo, não ele. Dos dois ministros pela classe dos juristas, assim chamados aqueles que integram o tribunal como representantes dos advogados, Carvalho Neto foi sócio de um (Sérgio Banhos) e é amigo próximo de outro (Carlos Horbach). Tem boa relação com os ministros do STJ e do STF, mas não gostou da fala de Fachin sobre as “forças desarmadas”. Em conversa com a piauí, disse: “Foi um tom provocativo, um pouco assimétrico dos discursos que ele faz. Num momento em que se criam algumas dificuldades nesse processo de fiscalização, isso acaba gerando uma inquietação dos pensamentos mais radicais, que não são nossos aqui, mas de alguns dos eleitores do presidente Bolsonaro.”
Carvalho Neto diz que a contratação de seu escritório por parte do partido do presidente é justamente para ajudar a arrefecer a crise. “Pavimentar essa relação entre Poder Executivo e Poder Judiciário, diminuir as zonas de fricção, para que seja uma relação menos belicosa. Quero ser um algodão entre os cristais”, afirma o advogado. De fevereiro a maio, ele já tinha estado cerca de dez vezes com Bolsonaro e diz que a estratégia para o resto do ano é “não desperdiçar tempo com discussões que não levam a nada” e investir nas teses jurídicas mais relevantes, como uso da máquina administrativa, fake news e uso indevido dos meios de comunicação.
Sua função, afirma, não é conter o discurso do presidente nos seus ataques infundados contra as urnas eletrônicas. “O sujeito se elegeu sete vezes deputado, se elegeu presidente, e eu vou dizer: presidente, não toque no assunto? Ele representa uma parte da população que pensa assim.” E o que Carvalho Neto pensa? “Pessoalmente, acho que o sistema é seguro. Trabalhei no TSE sete anos e meio, seria difícil sustentar o contrário, mas o debate político é legítimo.”
A escolha de Carvalho Neto para o jurídico da campanha de Bolsonaro foi vista como acertada inclusive na principal campanha adversária. Para alguns aliados de Lula ouvidos pela piauí, escalar um moderado em tempos de radicalização foi um “gol de placa”, ao contrário da decisão do próprio PT, que contratou o ex-ministro da Justiça Eugênio Aragão, dono de uma personalidade irascível. Aragão conhece muito o assunto, já foi vice-procurador-geral eleitoral no TSE em 2014, mas também já teve encrencas públicas com ministros das cortes superiores. Uma das mais famosas ocorreu com Alexandre de Moraes. Em 2017, Aragão criticou com aspereza a passagem de Moraes pela Secretaria de Segurança no governo de São Paulo – tinha, disse ele, “conchavos com o PCC” – e debochou de sua ascensão ao Ministério da Justiça no governo Temer – “muita areia para a sua caçambinha”.
Hoje Aragão afirma que as rusgas “estão superadas” e faz elogios à atuação do ministro, com quem diz já ter conversado algumas vezes depois. “O ministro Alexandre tem sido muito atencioso com os casos que têm chegado a ele, e é o ministro que mais tem enfrentado a questão das fake news, de forma contundente”, diz Aragão. “É muito importante que o ministro Alexandre esteja à frente do TSE nesta eleição, que terá ainda mais volume de notícias falsas do que vimos em 2018.”
Quem bancou a escolha de Aragão foi a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Na cultura interna do partido, devem-se reconhecer os serviços prestados e os gestos de autossacrifício de seus membros – e Gleisi avalia que Aragão fez os dois. Assumiu o Ministério da Justiça quando Dilma já estava praticamente fora do Palácio do Planalto e, depois disso, ainda colocou dez dos quinze advogados de seu escritório para atuar em novecentos processos do PT que correm no Brasil, a maioria deles por dívidas de campanha. Diante disso, Gleisi achou que Aragão merecia o posto. Ele está trabalhando ao lado de Cristiano Zanin, que esteve à frente dos processos de Lula na Lava Jato. Zanin tem a memória de todos os casos, que devem ser usados pelos adversários contra o petista. Desde 2015, participou de 160 audiências e mais de 350 depoimentos sobre as ações do ex-presidente.
Até o fim de maio, a campanha do PT já tinha entrado com pelo menos trinta representações no TSE, a maioria denunciando conduta vedada a agente público. Nenhuma foi acatada até agora.
O Tribunal Superior Eleitoral é composto de sete juízes. São 3 oriundos do STF, 2 do STJ e mais 2 da “classe dos juristas”, que são advogados especialistas em direito eleitoral. Se reconduzidos aos cargos por mais de um mandato, podem ficar até oito anos na corte. O sistema – com ministros de origens diversas e mandatos limitados – foi concebido para evitar que o tribunal seja capturado por uma determinada orientação ideológica ou partidária. Mas a hegemonia é do Supremo que, além de ter 3 dos 7 titulares, sempre ocupa a presidência e a vice, e indica os ministros da classe dos juristas em lista tríplice, aprovados pelo presidente da República.
Cada ministro titular tem um substituto para imprevistos. Em ano eleitoral, três dos substitutos são escolhidos para integrar a comissão que julga casos de irregularidade na propaganda eleitoral. As ações são distribuídas por sorteio. O sorteado toma a chamada “decisão monocrática”, como se diz no jargão jurídico quando o juiz decide sozinho, sem ouvir seus pares. E foi por sorteio que o caso do festival de música Lollapalooza caiu nas mãos do ministro Raul Araújo. A ação, proposta pelo PL de Bolsonaro sob orientação de Carvalho Neto, pedia que o TSE proibisse manifestações políticas no evento porque a cantora Pabllo Vittar levantara uma toalha com o rosto de Lula em seu show. Araújo mandou proibir – e o mundo desabou sobre sua cabeça.
A decisão feria o histórico do TSE de preservar a liberdade de expressão e incomodou os demais integrantes do tribunal. A repercussão foi tão negativa e ampliou tanto a divulgação do gesto da cantora que Bolsonaro chamou Carvalho Neto para uma reunião. Disse que não estava gostando de ser acusado de censor e pediu que a ação fosse retirada. O ministro Raul Araújo, que ratificara a censura, ficou numa situação incômoda. A interlocutores mais próximos, disse que não tinha ideia do tamanho do festival – em seus três dias, o Lollapalooza atraiu 300 mil pessoas, em São Paulo – e pensou que a organização do evento estivesse estimulando a manifestação política dos artistas. Com a decisão do juiz tomada no escuro, o festival logo ganhou o apelido de Lulapalooza. Araújo disse que, se o PL não voltasse atrás, ele próprio o faria.
O caso despertou atenção dentro do tribunal. Não é comum que ministros, sobretudo os substitutos, tomem decisões contrárias à tradição da corte. Os dois ministros oriundos do STJ, por exemplo, tendem a acompanhar as posições dos ministros do STF – um respeito que um dos magistrados do Supremo definiu como “quase reverencial”. Já os dois ministros da classe dos juristas, que se dedicam quase integralmente ao TSE, votam com extremo zelo, pois, quando deixam a corte, voltam para o mercado da advocacia com seus passes altamente valorizados, como aconteceu com Luciana Lóssio, os irmãos Henrique e Fernando Neves da Silva e o próprio Carvalho Neto, hoje na campanha de Bolsonaro.
A porta giratória os estimula a ficar o maior tempo possível na corte. O advogado Sérgio Banhos, quase impermeável a achegas políticas, está no seu último mandato. O advogado Carlos Horbach ainda depende de uma recondução, que precisa ser aprovada por Bolsonaro – requisito que talvez explique, segundo seus colegas ouvidos pela piauí, algumas de suas decisões recentes. Em outubro do ano passado, por exemplo, Horbach foi o único a votar contra a cassação do mandato do deputado estadual Fernando Francischini (União Brasil-PR), eleito em 2018 com a maior votação da história do Paraná, 427 749 votos. Por 6 a 1, o TSE cassou-lhe o mandato por, entre outras irregularidades, ter espalhado notícias falsas sobre as urnas eletrônicas ao afirmar, sem apresentar provas, que os equipamentos tinham sido adulterados para impedir a eleição de Bolsonaro no primeiro turno.
A maioria do plenário quis mandar um recado claro: nas eleições de 2022, mentiras dessa natureza seriam punidas com rigor. Horbach alegou que não havia provas de que as mentiras de Franceschini tivessem influenciado a eleição, mesmo porque ocorreram quando faltavam 22 minutos para o fechamento das urnas. Disse que a conduta do então deputado era reprovável e preocupante, mas não fora suficiente para abalar a legitimidade do pleito e, portanto, não justificava a cassação de seu mandato. Mas ninguém compartilhou do seu ponto de vista. A cassação estava aprovada. Até que o ministro Kassio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro para o STF, decidiu – monocraticamente – suspender a decisão majoritária do TSE no início de junho. Bolsonaro e seus aliados festejaram a reviravolta, mas acabaram fazendo papel de bobos. Naquelas idas e vindas tão próprias do Judiciário brasileiro, a decisão de Nunes Marques acabou suspensa por 3 a 2 na Segunda Turma do STF – o que deixou Bolsonaro enfurecido. “Fui do tempo em que decisão do STF não se discutia, se cumpria. Não sou mais”, ameaçou o presidente, numa solenidade no Palácio do Planalto.
Em 2018, o TSE foi surpreendido pelo surto de fake news. No ano do pleito, houve uma reunião importante no tribunal. Ao lado de Banhos e Horbach, o então corregedor-geral Luis Felipe Salomão formava a comissão de análise das propagandas eleitorais. Nesse encontro, os três discutiram se adotariam a postura de um juiz de futebol que interrompe o jogo toda hora, ou se fariam uma intervenção minimalista, deixando a bola rolar. Decidiram pela segunda opção. Hoje, Salomão admite que a indústria das notícias falsas não estava clara. A coisa só começou a ficar mais nítida com a publicação de uma reportagem no jornal Folha de S.Paulo, na qual a jornalista Patrícia Campos Mello revelou um esquema ilegal de propaganda eleitoral pelo WhatsApp. Empresários bolsonaristas pagavam para fazer disparos em massa pelo aplicativo – caracterizando um financiamento proibido pela lei – para prejudicar o petista Fernando Haddad e favorecer Bolsonaro.
A reportagem saiu entre o primeiro e o segundo turno. Era tarde demais para o TSE mudar sua abordagem. Mas Salomão não se arrepende da postura que o tribunal adotou, pois estava baseada no que se conhecia da realidade eleitoral. “Foi o rumo que a velocidade da campanha foi nos indicando”, diz ele. “Se tivéssemos sido provocados sobre o assunto, certamente reagiríamos, mas ninguém se deu conta, não havia um requerimento [sobre fake news] até ali.” (Em outubro passado, o TSE decidiu não cassar a chapa Bolsonaro-Mourão sob a alegação de que não havia provas do envolvimento dos candidatos no disparo em massa pelo WhatsApp. Na ocasião, o ministro Alexandre de Moraes alertou que, nesta eleição, casos assim, se comprovados, “vão dar cadeia”. Disse: “A Justiça Eleitoral, assim como toda a Justiça, pode ser cega, mas não é tola.”)
No dia 27 de abril, o presidente Bolsonaro promoveu um “ato cívico pela liberdade de expressão” no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Na tribuna, deputados celebravam o perdão que Bolsonaro concedera ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), condenado a oito anos e nove meses de prisão por dois crimes: tentativa de impedir o livre exercício dos poderes e coação em processo judicial. Na cerimônia, Bolsonaro, outra vez, atacou o TSE. Denunciou a existência de “uma sala secreta” no tribunal, onde “meia dúzia de técnicos dizem, ali no final: ‘Olha, quem ganhou foi este.’” O presidente afirmou que, para solucionar o problema, as Forças Armadas sugeriram à corte uma contagem paralela dos votos, feita pelos próprios militares, com a instalação de um cabo ou um duto para que os dados da votação fossem enviados aos computadores da caserna.
A sala secreta não é secreta. No dia 11 de maio, a piauí visitou o espaço, o centro nervoso da eleição do Brasil. O lugar onde os votos são totalizados é amplo e está localizado no anexo do prédio de dez andares que abriga a sede do TSE, a 2 km da Catedral de Brasília. A estrutura da sala é de repartição pública: piso branco e baias cor creme, tendo em cada estação de trabalho duas telas de computador da marca Dell. Nas paredes, um letreiro colorido de “parabéns” foi esquecido por um aniversariante de antes da pandemia. O nome oficial é Sala de Totalização. Ao fundo, há um espaço, separado por um vidro, destinado aos representantes de partidos, Ministério Público Federal e Polícia Federal, entre outras entidades, que desejam acompanhar a totalização dos votos.
Neste ano, haverá uma única mudança: serão feitas marcas no chão para orientar a circulação dos fiscais entre as baias. “Não vamos dar nenhum passo para trás, só vamos melhorar o que já fizemos para não ter prejuízo ao trabalho dos técnicos”, afirma Júlio Valente, secretário de Tecnologia da Informação do TSE. Valente fala com calma. Suas explicações são claras, mas gosta de acompanhá-las com metáforas ou analogias simples. Repete o que acha importante, sem elevar o tom de voz. Em 2018, ele era o chefe da Seção de Totalização e Divulgação de Resultados e aguentou, pacientemente, um fiscal de partido que passou o dia inteiro no seu cangote. Servidor da Justiça Eleitoral há 26 anos, assumiu a Secretaria de ti em maio do ano passado, e passou a comandar um time de trezentas pessoas, distribuídas nas áreas de infraestrutura, segurança da informação e desenvolvimento de sistemas.
De blazer e calça azul-claros, que combinavam com a máscara N-95 bem ajustada, Valente caminhava pelo anexo do TSE cumprimentando os servidores e anunciando o nome e a seção em que trabalhavam. Ele diz estar cansado de pessoas que falam apenas para ouvir a própria voz, mas tem boa vontade para explicar à exaustão por que não é possível fraudar a eleição no Brasil. “A apuração é feita na urna eletrônica e não existem pessoas contando votos aqui, nem em nenhum lugar do TSE. Quem fica na Sala de Totalização no dia da eleição são pessoas que desenvolveram os sistemas e garantem que tudo corra bem, para que não haja nenhuma máquina sobrecarregada”, diz, antes de acrescentar a metáfora: “É como se a gente colocasse um carro, que é o sistema, para andar em uma estrada. No dia da eleição, a gente vai cuidando para que não tenha troncos caídos na pista.”
A lorota da “sala secreta” surgiu – mais uma vez – na apuração da eleição presidencial de 2014. Naquele ano, o horário de verão entrou em vigor entre o primeiro e o segundo turno. Os dez estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, mais o Distrito Federal, adiantaram o relógio em uma hora. Com isso, ficaram uma hora à frente dos estados do Nordeste e três horas à frente dos estados do Norte, que não foram incluídos no horário de verão. Quando a votação se encerrou nos estados com novo horário, às 17 horas de Brasília, os eleitores da Bahia ou de Pernambuco, por exemplo, ainda tinham mais uma hora para comparecer às urnas. Os do Acre, mais três horas. Antes do fechamento das urnas em todo o território nacional, o que só aconteceria às 20 horas de Brasília, o TSE decidiu que não divulgaria nenhuma parcial de voto.
Giuseppe Janino, então secretário de TI do TSE, deu a ordem geral. Com voz empostada, anunciou a todos que estavam na Sala de Totalização as duas medidas para evitar vazamento: até às 20 horas de Brasília, todos os celulares ficariam em cima da mesa e as idas ao banheiro seriam acompanhadas por um segurança. Com a diferença de fuso horário, os primeiros votos a entrarem no sistema vinham do Sul e do Sudeste. Davam o tucano Aécio Neves na cabeça. Uma hora depois, entraram os resultados do Nordeste, reduto da petista Dilma Rousseff. Às 19h32 de Brasília, ainda antes da totalização dos votos do Norte, a curva de Dilma passou a de Aécio. Pronto: uma oscilação elementar, provocada pelo horário de verão, deu origem às teorias conspiratórias de “fraude”.
“O fim da tarde e o início da noite foram o pico da criticidade do processo”, diz Janino, ao rememorar a apuração de 2014. “Tínhamos a responsabilidade de não divulgar nada até 20 horas de Brasília. E foi aí que se criou o mito de que existia uma ‘sala secreta’, que não existe. Porque não existe informação secreta”, diz ele, que é apontado pelos colegas como “pai da urna eletrônica”, por ter participado do desenvolvimento dos primeiros equipamentos, em 1995. Ele prefere o apelido que deu a si mesmo: Quinto Ninja. Porque, quando entrou na equipe, a maioria dos engenheiros era de origem asiática.
O voto do brasileiro é registrado e apurado na própria urna eletrônica. Quando a votação é encerrada, a urna consolida os votos que registrou e imprime – num papel – o resultado no chamado boletim de urna. As informações ficam disponíveis na seção eleitoral para qualquer cidadão. Neste ano, cada boletim de cada urna no país – estima-se que serão cerca de 500 mil urnas – também ficará acessível online e em tempo real, para que qualquer eleitor possa checar a apuração dos votos. Com esse sistema, e isso Bolsonaro nunca admite publicamente, os partidos ou entidades interessadas podem ir somando urna por urna antes mesmo do TSE e, assim, ir fazendo uma contagem paralela de votos. Deste modo, qualquer divergência pode ser auditada.
Da urna, as informações contidas no boletim são gravadas e criptografadas pelo próprio equipamento em uma mídia digital. Feito isso, as informações são transmitidas para o TSE por um sistema interno de comunicação. Em nenhum momento a urna é ligada à internet, o que torna o sistema totalmente imune a ataques hackers. No TSE, as apurações que chegam criptografadas são então somadas de forma automática, sem intervenção humana, por computadores que estão na sala-cofre. Ninguém entra nessa sala para mexer nos terminais. É uma espécie de cápsula à prova de incêndio, alagamento, radiação e terremoto, onde tudo é filmado por câmeras sem nenhum ponto cego.
No dia da eleição, cerca de sessenta técnicos – trinta da área de infraestrutura e trinta da de desenvolvimento – se revezarão na Sala de Totalização para garantir o bom funcionamento dos sistemas. A primeira turma chegará por volta das quatro da manhã, antes do início da votação, e a última sairá quase 24 horas depois, já com o resultado proclamado. O momento mais tenso é o do fim da votação, com a transmissão de dados. Afinal, as 500 mil urnas estão distribuídas em 455 mil seções eleitorais, e cada seção eleitoral produz até quatro arquivos. São eles: o boletim de urna, a tabela de registro digital dos votos, as informações sobre os eleitores que não compareceram e, finalmente, os logs (registros de eventos) do software da urna eletrônica, que funcionam nos moldes da “caixa preta” dos aviões. Esses quatro arquivos de cada seção eleitoral são, todos eles, passíveis de auditoria.
Para desastres e ataques, há o que os servidores chamam de “plano de continuidade”, que já foi desenvolvido e aprovado para este ano, mas não pode ser divulgado por motivos de segurança. Sabe-se, no entanto, que são analisados incontáveis cenários de catástrofe. O pior deles: a explosão do prédio do TSE. Nesse caso, técnicos garantem que o voto fica preservado em vários pontos do processo – na seção eleitoral, no boletim de urna e em back-ups produzidos dentro das próprias urnas. “Se as proteções aos servidores da sala-cofre falharem diante de algum sinistro, há condição de recuperar a informação principal”, explica Janino.
Entretanto, o que mais preocupa é outra coisa. Sob o anonimato, sete magistrados, ex-magistrados e servidores do TSE ouvidos pela piauí afirmam, com maior ou menor ênfase, que o dado mais sensível é a radicalização política. O temor, que nenhum deles quer expressar em público, é uma convulsão social no dia da eleição, que culmine com a tentativa de invasão da sede do TSE em Brasília para impedir a proclamação do resultado. O receio, claro, vem dos acontecimentos dramáticos do dia 6 de janeiro de 2021 em Washington, quando uma turba, incentivada pelo então presidente Donald Trump, invadiu o Capitólio, sede do Parlamento, para melar a eleição de Joe Biden e impedir que o vitorioso fosse diplomado como presidente do país. Mas a preocupação dos ministros não se restringe aos dias de votação – 2 e 30 de outubro. Inclui o ato de diplomação do vitorioso, que deve ocorrer até o dia 19 de dezembro nas dependências do TSE, em Brasília. Da derrota em outubro à diplomação em dezembro, o derrotado terá tempo suficiente para mobilizar a turba.
“O que se faz em estado de emergência? Só se sabe na hora”, diz Christine Peter da Silva, secretária-geral do TSE. “Ao reconhecer que ele pode existir, você tenta evitá-lo. Primeiro, com campanhas para que a Justiça Eleitoral esteja em condições de acalmar os eleitores. Segundo, nos preparando com todas as forças para alianças institucionais de segurança física e cibernética, com as polícias militares e civis. Já houve um reforço nos últimos anos mas, desta vez, é carga total.”
Silva reconhece que quem está na ponta precisa de mais segurança, instrução e treinamento, porque estará em contato direto com os eleitores. No fim de maio, o TSE promoveu uma reunião online para apresentar um plano de ação aos servidores da Justiça Eleitoral em relação a fake news e possíveis atentados. Comandada por Frederico Alvim, assessor especial de Enfrentamento à Desinformação da corte, a reunião mostrou que há funcionários assustados. Alguns relataram ter sofrido ameaças e agressões na eleição passada, quando, já então, havia o mote de que as urnas eletrônicas não eram confiáveis. (Segundo pesquisa do Datafolha divulgada em maio, 73% dos eleitores brasileiros confiam nas urnas, mas, dois meses antes, esse percentual era de 82%.)
Ricardo Lewandowski estava de terno e gravata azuis quando se recostou no sofá de couro do seu gabinete no STF. Depois de 32 anos de magistratura, sem pompa ou soberba, ele afirma que sua função é transmitir alguma tranquilidade nesse período de contestações ao sistema que, reconhece, nunca viu antes. Ele já foi presidente do TSE de 2010 a 2012 e, em agosto, vai assumir a vice-presidência da corte, na gestão de Alexandre de Moraes.
Com voz serena, Lewandowski manda um recado categórico: “Nós vamos proclamar o resultado das eleições. Se, fisicamente, alguém quiser impedir a proclamação – e ela não precisa acontecer necessariamente nas dependências do tribunal –, não terá nenhuma chance de sucesso. O TSE estará onde os ministros do TSE estiverem. Estamos dispostos a arriscar tudo para cumprir a missão. Medo físico eu, pessoalmente, não tenho.” Hoje, os ministros do TSE dispõem de segurança pessoal, comandada por agentes da polícia judicial, todos concursados. Os juízes ocupam um prédio espelhado de dez andares, projetado, como tantos outros em Brasília, por Oscar Niemeyer. Nas pontas do sexto ao nono pavimentos, com as melhores vistas, ficam os gabinetes dos ministros titulares.
Durante sua presidência, de maio de 2020 a fevereiro deste ano, o ministro Luís Roberto Barroso já envolvia seus sucessores nas discussões que teriam impacto no pleito de 2022. Tomou as decisões mais delicadas em consenso com Fachin e Moraes. Entre elas, a troca do comando da área de ti de Giuseppe Janino para Júlio Valente. A ideia foi renovar a mentalidade da equipe e incrementar a cibersegurança, além de elaborar um plano de enfrentamento dos ataques da extrema direita. Barroso acha que se saiu bem e, como gosta de elencar tudo em três itens, o balanço de sua gestão vem na forma de um tripé: “1) Realizar eleições na pandemia, com um plano de segurança que impediu a disseminação da doença; 2) Impedir o retrocesso do voto impresso; e 3) Ter conduzido um duro e relativamente bem-sucedido enfrentamento às fake news, em um contexto em que precisei fazer um embate de resistência democrática contra os ataques à lisura do processo eleitoral e à democracia.”
Lewandowski, por sua vez, sabe o desafio que tem pela frente. “As eleições coordenadas pela Justiça Eleitoral são como um jogo de futebol. Se o juiz atua muito, não dá certo”, diz ele, recorrendo à imagem futebolística que pautou o comportamento da corte em 2018. “Os ministros do TSE são zeladores de um patrimônio – a democracia. Por mais que tenhamos divergências, que não concordemos em tudo ao interpretarmos o Código Eleitoral, o plenário está unido em defesa do patrimônio comum. O problema não está no TSE ou nas urnas.”
De fato, o tribunal se empenhou. Fez um acordo de cooperação com as plataformas de redes sociais que se comprometeram a trabalhar para controlar a difusão de desinformação. Depois de muita pressão, conseguiu atrair até o Telegram, que resistia a qualquer acordo. A plataforma só cedeu depois que o STF determinou seu bloqueio no Brasil. O tribunal também fez acordo com líderes religiosos para que evitassem pregações, sermões e homilias mentirosas, violentas ou preconceituosas. O pastor bolsonarista mais histriônico, Silas Malafaia, ficou indignado com a iniciativa, acusou os líderes religiosos de alienados ou “esquerdopatas” e conseguiu promover o boicote das maiores igrejas evangélicas. Ainda assim, o acordo foi assinado por juristas evangélicos e representantes de judeus, muçulmanos, católicos, espíritas, adventistas, budistas e religiões de matriz africana.
Como candidato à reeleição e aspirante a juiz do processo eleitoral, Jair Bolsonaro já atacou tanto o TSE e as eleições que conseguiu produzir o receio de que a corte tenha uma atuação permissiva nesta eleição. “O tribunal está sendo alvo de manipulação por parte do Bolsonaro. Ao mesmo tempo, o que preocupa é que a corte fique fragilizada por ataques virulentos, e como ela vai reagir aos abusos”, diz Aragão, o advogado do PT. “A desinformação e o esgarçamento institucional sobre o TSE são os dois grandes temas de preocupação da campanha de Lula”, completa Zanin, seu colega no jurídico da campanha petista.
Em certa medida, Bolsonaro já obteve concessões que, em um ambiente de normalidade institucional, seriam inaceitáveis. Quando se revoltou contra a manutenção da cassação do deputado Francischini, sentiu-se à vontade para desafiar publicamente o tribunal ao dizer que, tal como o deputado, ele também dissera que houve fraude na eleição de 2018. E reafirmou que houve fraude, pois recebeu “centenas de telefonemas” no dia da eleição denunciando irregularidades. Só faltou dizer ao TSE: “E aí, vão me cassar também?”
No domingo, dia 12 de junho, Bolsonaro voltou à carga. Em discurso via telão na versão brasileira da Conservative Political Action Conference (CPAC), uma organização conservadora criada nos Estados Unidos, disse que se Lula “ganhar na suspeição, aí complica”, repetiu que houve fraude em 2014 e saiu-se com uma nova tese sobre a “fraude” de 2018. Afirmou que “um partido” contratou hackers para adulterar os resultados, pagou a primeira parcela, mas deixou de pagar a segunda. Por isso, os hackers fraudaram o primeiro turno, mas, sem pagamento, não fraudaram o segundo turno. “Os hackers não alteraram o resultado do segundo turno e aí aconteceu a minha vitória”, disse Bolsonaro. Mas introduziu sua tese com uma frase memorável: “O que eu acho, não tenho provas.”
O que mais chama a atenção, no entanto, é a crescente desinibição dos militares para fazer o jogo de Bolsonaro. A tropa de choque é formada por quatro generais quatro estrelas, egressos do Alto Comando: Augusto Heleno, Braga Netto, ainda cotado para ser candidato a vice na chapa de Bolsonaro, Luiz Eduardo Ramos e o próprio ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Um inquérito da Polícia Federal, cujo conteúdo foi parcialmente divulgado em maio, mostra que os generais Heleno e Ramos estão, desde 2019, tentando encontrar dados que possam sustentar a tese de fraude nas urnas eletrônicas. Segundo o inquérito, um técnico em eletrônica, Marcelo Abrileri, disse que foi convidado pelo general Ramos para uma reunião com Bolsonaro no Palácio do Planalto, na qual se discutiu o assunto das fraudes. A reunião durou uma hora e não se achou nada de concreto. Mas a luta continua.
A mais recente investida veio na forma de um ofício do ministro da Justiça, Anderson Torres, informando ao TSE que a Polícia Federal participará de todas as etapas de fiscalização das urnas, inclusive “usando programas próprios”. O tom do documento, duro e ameaçador, causou estranhamento entre os ministros do tribunal, mas não deixou dúvidas de que o governo está, agora, empenhado em recrutar também os policiais federais para o plano de sabotagem das eleições. Entre os quatro generais envolvidos na difusão do discurso bolsonarista de desacreditar as eleições, quem ocupa o proscênio neste momento é o ministro Paulo Sérgio Nogueira. Associando-se ao movimento do ministro da Justiça, ele enviou ofício ao TSE avisando que mandará representantes para fiscalizar a eleição e pediu que o tribunal indicasse um funcionário para ser “ponto de contato”.
É parte do jogo de pressão e constrangimento, sobretudo porque o ofício do ministro-general era desnecessário. Em resposta, o ministro Fachin abriu prazo de quinze dias para que a PF e o Ministério da Defesa inscrevam seus representantes, que atuarão na fiscalização das urnas ao lado de todos os demais indicados das outras entidades e partidos. Foi um meio de dizer que quem está à frente do processo é o TSE, e nem Polícia Federal, nem Forças Armadas terão papel especial.
Antes disso, o ministro Paulo Nogueira já se estranhou com o TSE. Incomodado com a recusa do tribunal às suas sugestões e a menção aos “erros grosseiros”, o Ministério da Defesa, que tem assento na Comissão de Transparência, entregou uma tréplica ao TSE no dia 10 de junho. O documento, assinado pelo ministro Nogueira, rebateu a análise do tribunal e reclamou que as Forças Armadas “não se sentem devidamente prestigiadas” na discussão para a qual foram convidadas.
O tribunal agradeceu a tréplica, prometeu estudar tudo e, no dia seguinte, resolveu divulgar um balanço mais detalhado sobre as sugestões que os militares e as demais entidades apresentaram no âmbito da Comissão de Transparência. A ideia, aparentemente, é acalmar os ânimos do Ministério da Defesa, porque o quadro final adota uma nova nomenclatura – o que antes era considerado “rejeitado” virou sugestão para ser “analisada no próximo ciclo eleitoral” ou “parcialmente acolhida” – e indica o seguinte: os militares apresentaram 15 propostas (8 dentro do prazo definido pelo tribunal, 7 fora, segundo os técnicos). Dessas, 2 se repetiam. Restaram 13, das quais 6 foram acolhidas integralmente, 3 parcialmente, 3 ficaram para análise em futuras eleições e apenas 1 foi rejeitada porque, segundo o TSE, feria a legislação vigente.
Apesar da adesão dos generais de Bolsonaro à sua tese, a paisagem geral nas Forças Armadas é nebulosa. Em conversas reservadas, dois ministros do tribunal insistiram com a piauí que a maior parte das Forças Armadas não adere a uma aventura golpista de Bolsonaro e vai respeitar o resultado das urnas. Mas um levantamento feito pela Folha de S.Paulo mostrou com clareza estatística como os militares foram seduzidos por Bolsonaro a desmoralizar o sistema eleitoral. De 1996 até o final de 2021, as Forças Armadas não levantaram uma única objeção às eleições e ao sistema eletrônico de votação, o que inclui os pleitos de 2014 e 2018 – os dois que Bolsonaro diz que foram fraudados. Ficaram, portanto, 25 anos em silêncio. Mas, do final de 2021 para cá, os militares foram tomados por uma preocupação súbita com a segurança do pleito e a urna eletrônica e apresentaram ao todo – entre dúvidas, sugestões e pedidos diversos – 88 questões sobre o processo. Diante disso, quando Bolsonaro mandou a mensagem para o celular do ministro Gilmar Mendes perguntando “O que teme o TSE?”, a resposta era óbvia: O TSE teme o mesmo que todos os democratas. - (Fonte: Revista Piauí - Aqui).
................
Marina Dias é jornalista. Foi repórter na Folha de São Paulo e correspondente do jornal nos Estados Unidos.
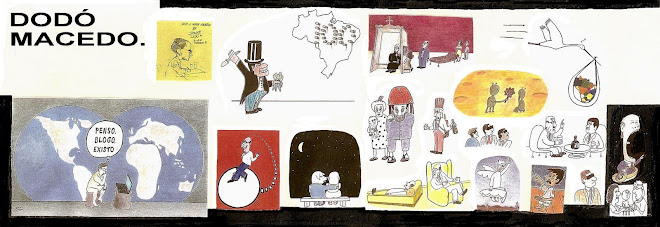

Nenhum comentário:
Postar um comentário