E assim fui caminhando, com meus sapatinhos de Perla Sigaud, saltitando sobre minhas perdas familiares dolorosas e trágicas. Consegui seguir adiante, ultrapassando a dura fase brasileira, ao olhar desconfiado de muitos, que se arvoravam o direito, não sei advindo de que entidade divina, de julgar esta sobrevivente, que hoje aqui está, não digo inteira, mas viva, liberta e coerente, buscando honrar a memória dos meus com todas as minhas possibilidades.
Rompi o bloqueio que me paralisava e, ao passar do tempo, fui me enriquecendo de informações, valores, consciente do verdadeiro serviço, que, como jornalista, posso prestar à sociedade. Tive a chance de expressar opiniões, sem medo, indo contra a maioria das pessoas do meu círculo social, sem me preocupar em ser contestada. Logo eu, que sempre tive como maior prazer e preocupação ser agradável a todos! Hilde Benjamin Button, na medida em que amadurecia, estava rejuvenescendo. Passava a ser uma formadora de opinião de fato.
Tive alguns reconhecimentos que foram satisfações. Quando fui a primeira na imprensa a noticiar o namoro de Carla Bruni e o presidente da França, Sakozy, antecipando inclusive seu casamento, repercuti na mídia internacional. Havia furado inclusive meus companheiros franceses! E os italianos do Corriere della Sera me chamaram de Rainha das colunas.
Quando criei a Sociedade Emergente, o impacto superou qualquer expectativa. Perdi a conta dos jornais estrangeiros que a comentaram e me pediam para eu teorizar sobre o assunto, como o britânico The Economist e o Miami Herald. O New York Times fez menção. No Brasil, o feito me valeu capa da Vejinha. Emergente virou verbete de dicionário com a conotação dada por mim. Isso sim foi um gol do colunismo social.
Aos 24 anos, fui passar uma temporada em Nova York, hospedada com uma amiga de minha mãe, que se tornou amiga, orientadora e referência em todos os aspectos da minha vida, pessoal e profissional. Foi minha madrinha de casamento. Eleanor Lambert. Chamada pela mídia dos EUA de “Czarina da moda”. Eu estava na Última Hora e precisava de uma máquina de escrever para redigir minhas colunas diárias, que enviaria Via Varig. Eleanor emprestou-me a de seu marido, jornalista já falecido, Samuel Berkson: uma Remington toda folheada a ouro, troféu que ele recebeu com o Prêmio Pulitzer. Foi uma emoção muito forte. Minha primeira coluna de Nova York teve o título: “Escrevo numa máquina de ouro”. Houve quem duvidasse...
Muito do que aprendi de moda, de gente, beautiful people, elegância e de lutar por uma posição através do trabalho, e só do trabalho, aprendi com duas mulheres exemplares: minha mãe e Eleanor Lambert.
Eleanor criou a “Eleição dos Mais Bem-vestidos do Mundo”, cujos direitos cedeu antes de morrer para a revista Vanity Fair. O resultado final era decidido por um Conselho de alto nível, do qual tive a honra de participar em casa de Eleanor, com monstros sagrados da elegância como Nan Kempner, Oscar De La Renta e Jeromy Zipkin.
Entrevistei todos, mas todos os grandes nomes da moda americana, a Sétima Avenida abriu-se para mim. Entrevistei a maior colunista social do mundo, e quando eventualmente a encontrava em alguma festa nos Estados Unidos ou na Europa ela logo me cumprimentava ardorosa: “Hildegard Angel from Brazil!”. Chamava-se Aileen Mehle, a Suzy Knickerbocker do New York Post, posteriormente simplesmente Suzy, da W. Eleanor era o “Abre-te Sésamo”.
Régine Choukron, a das boates Régine’s, foi outra pessoa que me descortinou um mundo de gente interessante. A começar pela princesa Grace Kelly, com quem passei boas horas, a ponto de preencher página inteira de jornal com entrevista exclusiva. E comemorou meus 30 anos com festa para 300 no seu Crystal Room, em Nova York, quando sua boate de Park Avenue era o must dos musts. Os brasileiros foram daqui muitos deles e, de lá, os com maior expressão no exterior estavam: Ivo Pitanguy, Pelé e Marcia Kubitscheck com o marido primeiro bailarino do American Ballet Theatre, Fernando Bujones. E as celebs amigas de Régine, como Stevie Wonder. Consultem as colunas da época.
Duas viagens me marcaram para a vida inteira. Ao Equador, em 1980, e à China, em 1979, no início de seu processo de abertura para o capitalismo. Uma China ainda tosca, com riquixás e poucos carros, remanescentes do que havia no período pré-comunismo, uma China com civis uniformizados (de verde) e militares (de azul). E todos de boné com estrelinha vermelha.
Uma China pobre, sem luxo, sem tecnologia, com higiene discutível, porém, sem miséria. Este último item particularmente me encantou. Falavam que a China era uma Democracia. Mas todos vigiavam todos.
Da China, trouxe material para seis páginas de reportagens, publicadas seriadas. E um furo que valeu primeira página: “O Globo é o primeiro jornal do Ocidente a figurar num Dazibao chinês”. Dazibaos eram os chamados Muros da Democracia onde o povo chinês colava seus comentários e reclamações. Com a ajuda de minhas amigas colamos várias páginas minhas no Dazibao. Colunas com as “dondocas” e os “dondocos” no capricho. Longos, smokings, chapéus. E os chineses, naquela sua simplicidade, riam às gargalhadas, como se assistissem a um espetáculo de humor. Considerei as risadas, aplausos.
Minha entrevista com Imelda Marcos foi, esta sim, um grande lance de humor. Quando entrei em sua townhouse das ruas 80’s, próxima ao Central Park, jamais imaginei encontrar uma imagem de Nossa Senhora de Fátima florida, em tamanho natural, encarando uma imagem, numa redoma, de Buda gordo sentado, também em tamanho natural, todo de jade, com uma linguinha que se mexia, com um imenso rubi sobre ela. Show!
Pedi a madame Marcos para ver sua famosa coleção de sapatos. Ela me levou para conhecer sua coleção de processos a que respondia. Numa imensa biblioteca, as paredes eram todas cobertas por estantes, todas ocupadas por processos devidamente encadernados em couro pirografado com letras douradas. Fiz a foto e publiquei.
Mergulhar no universo de Darwin, as Ilhas Galápagos, foi experiência única. Descobrir, in loco, a evolução das espécies de acordo com cada habitat. Conferir a dança do acasalamento do albatroz, pássaro monogâmico. E as praias de decomposição de coral rosa ou de coral branco? Experiências acompanhadas da consciência de ser uma sul americana, e não aquela coisa brasileira enclausurada em um Brasil narcisista, com cultura, valores, idioma, culinária, enfim, um conjunto de fatores que mais nos diferencia do que aproxima de nossos vizinhos.
Lá no Equador, na década dos meus 20 anos, pude pela primeira vez me perceber continental, e passear pela Quito Antiga, em cujas igrejas, frutas, flores e astros celestes se misturam a símbolos sacros cristãos, num sincretismo de religiões e costumes dos povos espanhol e indígena equatoriano. Assim como lembro a adoração de todos por Simon Bolivar, o conquistador, e a guia do ônibus de turismo narrava seus feitos com entusiasmo patriótico como nunca vi aqui falarem dos nossos heróis.
A festa de aniversário de Frank Sinatra no Caesar Palace, em Las Vegas. Toda a Hollywood presente. Apenas os amigos dele. Do Brasil, as amizades feitas no Rio de Janeiro, em 1980, convites de Barbara Sinatra: Josias e Heralda Cordeiro e... eu! Usei um vestido amarelo coberto de paetês bordado a mão pelo Michel. Sinatra cantou no palco com os amigos Sammy Davis e Dean Martin. O que mais eu poderia desejar? E eu fotografando enlouquecida. Tudo devidamente publicado.
Vieram os anos de Brasília, levada pelos amigos Rai e Said Farhat, nomeado Secretário de Comunicação Social, status de ministro, de João Figueiredo, por influência de seu irmão, Guilherme Figueiredo, grande escritor e dramaturgo consagrado.
Said era um liberal de centro, em sua casa faziam pouso todos os jornalistas políticos de prestígio, a começar por Carlos Castelo Branco. Foi Said quem escreveu o discurso de posse do presidente, quando Figueiredo proclamou “Juro que hei de fazer deste país uma democracia”. E como falou (o que estava escrito), estava falado. Não era homem de voltar atrás em suas palavras. Foi mesmo o governo da abertura. Os militares da linha dura do governo e de fora dele não engoliam o Said por isso.
Em Brasília, eu me hospedava com os Farhat. Havia um grande carinho entre nós. Rai levava a foto de meu irmão em sua carteira. Era uma mulher especial. Quando voltei da China, precisava estar em lugar sossegado para escrever minha longa reportagem, fui pra casa deles no Lago Sul, onde não só escrevi o texto, como diagramei todas as páginas, distribuindo as fotos no chão, sentada sobre o piso acarpetado do quarto de hóspedes.
Numa determinada manhã, acordei e encontrei a casa alvoroçada, “secretas” entravam e saíam. Rai, madrugadora como sempre, no café da manhã recebera um pacote, um livro. Como de hábito, ela o abriu de trás para a frente. O “livro” explodiu em suas mãos. Se ela o tivesse folheado do modo convencional, da frente para trás, a bomba teria feito enorme estrago. Sem saber, Rai desativou o petardo. Mesmo assim saiu machucada.
Foi um aviso. Farhat estava desagradando àqueles que desejavam endurecer e, mesmo, perpetuar a ditadura. Ele foi defenestrado antes do fim do governo.
A solenidade do anúncio da eleição de Tancredo Neves foi realizada numa sala do Congresso, apenas para um grupo reduzido. A família de Tancredo convidou-me a assistir, como única jornalista presente entre eles. E me deram lugar na primeira fila. Sempre amáveis comigo.
No governo Collor, tudo era motivo para festas. Os voos seguiam para a Capital Federal cheios de cariocas e paulistas, levando os sacos de smokings e vestidos longos. A festa começava a bordo. Itamar não recebeu para nada. Fernando Henrique Cardoso e dona Ruth reabriram a temporada das recepções no Itamaraty, e elas foram muitas.
No governo Lula, não fosse o traquejo mineiro e a generosidade pessoal de Marisa e José Alencar Gomes da Silva, o vice-presidente, ninguém do poder travaria novas relações. Ficaria todo mundo girando em torno do mesmo círculo. Às suas próprias custas, o segundo casal abriu o Jaburu para eventos diversos de confraternização, de modo descontraído e discreto, jamais ostentando.
Foi assim, graças a Marisa e José Alencar, que, quando voltei a cobrir Brasília, encontrei uma capital diferente. Passei a ouvir outras preocupações. Fui convidada por eles para a posse no Planalto. Na véspera, houve aquele réveillon íntimo dos Alencar, em que Lula apareceu e fez um discurso, de mãos dadas com o vice-presidente, prometendo vida melhor para os pobres, comida na mesa dos miseráveis. Cumpriu.
Até que veio o Mentirão, como eu chamei, e ainda chamo, o Mensalão, com salvo conduto para tal concedido por um dos membros da corte suprema ao dizer a frase: “Não tenho provas, mas vou condenar porque a literatura jurídica me permite”. Com essa permissão literária, cravei a alcunha, lançada em meu discurso na ABI, de defesa do réu José Dirceu, depois reproduzido em minha coluna e muitas outras.
E por que fiz defesa tão ardorosa? Porque desde o início intuí, naquele julgamento das capas pretas voadoras, um objetivo muito mais amplo: o de demolir a aura heroica dos jovens de 68 como um todo. Aqueles bravos, que deram suas vidas pela nossa democracia nos porões dos torturadores. Satanizando os sobreviventes, destruiriam todas aquelas louváveis biografias e tornariam palatável qualquer forma de ditadura. Esperneei o que pude. Obtive grande leitura, mas não grande resultado. O fake Batman tornou-se pop.
E foi o que se viu. Não bastou prenderem Dirceu, Genoíno, Vaccari, Pizzolato. Queriam mais. Eles foram os aperitivos. Queriam também Dilma e, por conseguinte, a cereja do bolo, o mote principal: queriam Lula. Vieram as manifestações de 2013 por causa de 20 centavos de aumento de passagens de ônibus. E vieram as ofensas graves a Dilma em estádio de futebol. E veio o Pixuleco. E a grande mídia, em uníssono, rotulada de PIG (Partido da Imprensa Golpista), repercutindo e estimulando, de seu jeito torto, as insatisfações; omitindo as conquistas inúmeras dos governos daqueles períodos. Era o golpe já a galope. Vieram as manifestações verde/amarelas e, enfim, o Impeachment.
O ciclo não estava completo. Saiu Dilma, faltava Lula. Impedi-lo de se candidatar a presidente. Como massa de bolo sovado, quanto mais o juiz Sergio Moro o condenava, e mais a mídia lhe batia, mais crescia a pontuação de Lula nas pesquisas do eleitorado.
As sovas no bolo de Lula eram e são diretamente desproporcionais aos tapinhas de leve nas costas de políticos da situação flagrados com a mão no pote de dinheiro. O que, para nós, que sempre confiamos na Justiça, só traz desalento e desesperança.
Hildezinha Benjamin Button, fato, na medida em que fica mais velha na idade, perde a noção do perigo, torna-se desafiadora e intrépida adolescente, pronta a revelar sua alma, a falar o que acredita ser o certo e justo.
Num processo de regressão fantástica, torno-me criança inconveniente, agindo como se na democracia estivesse, quando esta não passa de leve sombra, remoto conto de alta magia, uma pedra filosofal que se perde, pronta a se dissipar ou a ser surrupiada pelo bruxo das trevas, o nosso Lord Voldemort, que pretenderia se tornar imortal, subjugar as pessoas e destruí-las, especialmente o Lula, ops, digo, o Harry Potter.
Eu não disse que virei criança?"
(De Hildegard Angel, crônica intitulada "Assim como o Benjamin Button do cinema, com o passar do tempo a colunista ganha vigor infantil, intrepidez adolescente", primeira coluna publicada no novo Jornal do Brasil, de volta às bancas - ainda não em nível nacional - no domingo 25. Assim se expressou a jornalista no 'lead' de sua crônica:
"Compartilho aqui com vocês, exclusiva para vocês, meus leitores estimados, minha coluna na edição de estreia do Jornal do Brasil, domingo, 25 de fevereiro, que não está no ar no site do jornal. É um resumo biográfico de minha trajetória profissional.
Sempre lembrando o lema que orienta meu trabalho:
'Pode não ser a sua opinião, pode não ser a melhor opinião, mas é a minha opinião.'"
Hildegard Angel aos 24 anos. TVE, Rio, 1975.
A "Hildezinha Benjamin Button" voltou com tudo ao JB. Uma beleza!).
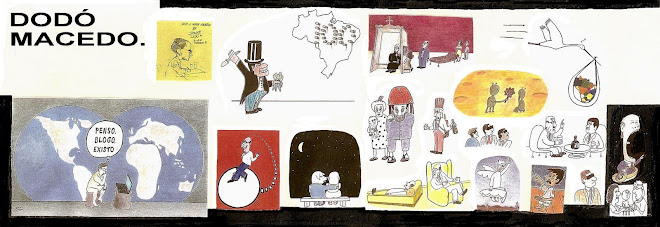


Nenhum comentário:
Postar um comentário