Curiosamente, 52 anos depois do filme, outro Z, que é também uma “produção” franco-argelina, ocupa agora a paisagem política francesa e europeia. Depois dos protestos dos coletes amarelos (gilets jaunes), que ocorrem na França desde 2018, emergiu no país um novo movimento de extrema direita que busca conduzir Éric Zemmour, jornalista e comentarista político de 63 anos, ao posto de presidente da França. Mas, ao contrário dos progressistas do filme de Costa-Gavras, a “geração Z” defende valores antidemocráticos, o supremacismo branco e tem forte ranço antissemita.
O movimento começou no início deste ano, espalhando cartazes pelos bairros mais chiques de Paris com a imagem do jornalista e os dizeres “Zemmour Président”. Agora, Zemmour domina toda discussão política na França, pois as pesquisas apontam que ele tem 17% das intenções de voto nas eleições presidenciais que se realizarão daqui a quatro meses. Parece pouco, mas o número indica que está atrás apenas do centrista Emmanuel Macron (com 24%) – atual presidente do país que irá tentar a reeleição –, desbancando todos os demais candidatos, inclusive Marine Le Pen, até agora a porta-estandarte da extrema direita. No dia 30 de novembro, ele oficializou sua candidatura à Presidência.
A expansão de sua popularidade e do discurso xenofóbico e racista que propaga é motivo de apreensão em todos os partidos, tanto à esquerda quanto à direita. Até Macron não esconde sua preocupação, atacando o possível rival em qualquer oportunidade que encontra. A presença de Zemmour no cenário político da França suga todo o ar da democracia.
Como Donald Trump, Zemmour é um caso clássico de outsider que não tem papas na língua, expondo em público “aquilo que todo mundo simplesmente pensa”, mas não diz. Suas propostas são de um radicalismo inédito, até mesmo para a França, que já convive há décadas com uma extrema direita forte e articulada, desde a fundação em 1972 da Frente Nacional, liderada por Jean-Marie Le Pen.
Nas eleições presidenciais de 1988 e 1995, o radical Le Pen somou a cada vez 15% dos votos e, em 2002, chegou surpreendentemente ao segundo turno. Sua filha e herdeira política, Marine Le Pen, repetiu o feito em 2017, e no ano seguinte promoveu o rebranding do partido, a fim de livrá-lo das sequelas deixadas pelo pai e adaptar o discurso extremista aos novos tempos. Aproveitou para mudar o nome da legenda, que passou a se chamar Reunião Nacional.
O discurso xenofóbico, que é antigo na França, com Zemmour atingiu um novo patamar, o do racismo explícito e deliberado. Ele defende que o país interrompa os fluxos de imigração, que, a seu ver, são a causa da criminalidade e do desemprego. Afirma que 25% da população carcerária é composta por estrangeiros, que deveriam ser extraditados para cumprir a pena em seus países de origem. Chegou a atribuir a violência urbana a negros e árabes, dizendo se basear em dados estatísticos – o que lhe rendeu uma condenação por injúria racial em 2011. Desde então, Zemmour repete o argumento recorrendo a subterfúgios. Diz, por exemplo, que os muçulmanos “colonizaram” áreas inteiras das cidades, onde prevalece a Sharia – o direito islâmico –, em vez do direito francês. “A França está em situação de guerra civil” com sua população muçulmana, proclama o jornalista em suas intervenções, afirmando: “Quando um professor é decapitado e quando a sua cabeça rola na calçada, isso se chama guerra civil.” Ele se refere à decapitação, em 2020, do professor Samuel Paty por um jovem russo de origem tchetchena que se encontrava refugiado na França. O assassino disse que matou Paty por ele ter mostrado caricaturas de Maomé na sala de aula. O islã, para Zemmour, é por natureza uma religião do terror.
Seus livros, que são best-sellers, tratam da França em um tom pessimista, dizendo que o país e seus valores históricos estão em declínio. A culpa disso, segundo ele, é a presença crescente no território francês de grandes comunidades de estrangeiros e a ideologia de esquerda que se espalhou pela política e os costumes.
Ao dizer tais coisas em voz alta, Zemmour rouba do clã Le Pen o posto de principal farol da extrema direita na França. Jean-Marie Le Pen se popularizou por suas declarações racistas e antissemitas nos anos 1980 e 1990, mas desde que sua filha Marine assumiu o comando do Reunião Nacional, ela tenta fazer com que vigore entre os seus correligionários uma linguagem mais moderada. Sem deixar de ser xenofóbico, o partido evita apreciações polêmicas sobre muçulmanos e judeus. O que nem passa pela cabeça de Zemmour evitar.
O jornalista subscreve a teoria conspiratória da “grande substituição”, formulada pelo escritor francês Renaud Camus, que imagina haver um grande plano das elites burguesas para substituir a classe trabalhadora europeia (e branca) pela não europeia, mais barata, sobretudo a que provém do Magreb (países do Norte da África colonizados pela França, como Marrocos, Argélia e Tunísia) e da África Subsaariana. Em debate recente, Zemmour disse que o projeto das elites francesas nos últimos quarenta anos foi o de facilitar a imigração e que os empresários do país deveriam ter feito como os japoneses nos anos 1960 e 1970: apostar em máquinas, não em imigrantes. A tese da “grande substituição” se espalhou pelo mundo, inspirando os atentados terroristas ocorridos contra uma mesquita em Christ-church, na Nova Zelândia, e em El Paso, no Texas, ambos em 2019.
Para Zemmour, os franceses de souche (“de raiz”, expressão controversa que designa os que não têm ascendência estrangeira imediata) estariam sendo suplantados por uma nova população muçulmana, seguidores de uma religião incompatível com os “valores franceses”, que seriam em essência cristãos. Paradoxalmente, Zemmour é filho de franceses de origem judaica que viviam na Argélia e se mudaram, por causa da guerra de independência, para Montreuil, no Norte da França, onde ele nasceu em 1958. A Argélia deixou de ser uma colônia francesa em 1962.
A xenofobia de Zemmour e sua nostalgia de um país que já não existe mais o leva a criticar até mesmo os prenomes dos filhos de muçulmanos nascidos na França. Ele reclama que as famílias muçulmanas preferem nomes ligados à religião delas, como Mohamed, em vez de recorrerem aos de santos católicos, como Jean ou Pierre, ou de personagens da história do país, como Marianne ou Louis. Para Zemmour, isso é um sinal de que os imigrantes rejeitam o passado francês – o mesmo que ele deseja restaurar.
Mais chocante do que ouvir esse tipo de patuscada, é constatar como Zemmour introduz suas mensagens no debate público sem forte resistência dos franceses. Suas ideias, apesar de forjadas pela intolerância e de colocarem em risco os princípios democráticos, acabam por pautar o debate nacional. Como isso é possível? Como a ascensão de Zemmour, até pouco tempo improvável, parece agora inevitável? A explicação pode ser encontrada na sua habilidade tanto para lidar com a mídia como para articular sua história pessoal com as ideias que propaga.
Aorigem judaica de Éric Zemmour é uma arma que ele usa de maneira desconcertante. Embora não esconda sua ancestralidade, ele evita colocá-la em primeiro plano, mas a mantém sempre à mão, concedendo-se licença para fazer declarações que um não judeu jamais ousaria. Ele alinhou sua visão sobre a condição dos judeus na França com a de um famoso discurso feito pelo nobre e político Stanislas Marie Adélaïde, conde de Clermont-Tonnerre (1757-92). Em defesa da concessão do status de cidadão aos judeus franceses, o conde defendeu em 1789: “É preciso recusar tudo aos judeus como nação, e tudo conceder aos judeus como indivíduos.” Ou seja, para Zemmour, a questão judaica não deve suplantar a devoção à pátria: um judeu francês, antes de mais nada, é um cidadão da França.
Em seu primeiro best-seller, Le Suicide Français, publicado em 2014, Zemmour defendeu a República de Vichy (1940-44), estabelecida em parte do território da França depois que o marechal Philippe Pétain fez um pacto com Hitler durante a ocupação nazista do país. O “governo francês” estabelecido na cidade de Vichy e tutelado pelos alemães é um dos momentos mais vergonhosos da história contemporânea. Pétain estimulou o culto à personalidade, como fazia Hitler, e adotou uma política explicitamente antissemita, endossada por numerosos seguidores. Zemmour chega a dizer que Pétain enviou os judeus estrangeiros para os campos de concentração com o objetivo de preservar a vida dos judeus franceses – o que é falso e já foi amplamente refutado pelos principais historiadores do período.
O descaso de Zemmour com o antissemitismo se expressa de outras maneiras. Ele lamenta, por exemplo, o destaque conferido ao Holocausto nas escolas francesas, alegando que não teria sido um evento “central” da Segunda Guerra Mundial. Não foi o primeiro a recorrer a essa falácia. Em 1987, Jean-Marie Le Pen afirmou que o Holocausto era um “detalhe” da guerra – e foi condenado por antissemitismo. Zemmour vai além, opondo-se inclusive às leis que protegem a memória do Holocausto e rejeitando o reconhecimento oficial pela França de sua participação no genocídio dos judeus. Ele alega que as duas iniciativas visam a culpabilizar os franceses por crimes cometidos somente pelos alemães.
Em seu livro mais recente, La France N’A Pas Dit Son Dernier Mot (A França ainda não deu sua última palavra), que vendeu 200 mil cópias às livrarias antes mesmo de ser publicado, Zemmour rotula os quatro judeus mortos por um terrorista em uma escola da cidade de Toulouse, em 2012, como “estrangeiros acima de tudo”, por eles não terem sido enterrados na França, mas em Israel. “De acordo com os antropólogos, é o local de descanso final dos restos mortais que determina a nacionalidade”, afirma Zemmour.
Nem mesmo o capitão francês Alfred Dreyfus (1859-1935), vítima do mais escandaloso caso de antissemitismo na França do século XIX, escapa dos ataques do polemista. O capitão, que era de origem judaica, foi acusado de ser espião alemão em 1894, condenado à prisão perpétua por alta traição e absolvido apenas em 1906, quando se constatou que a denúncia era baseada em documentos forjados. Uma feroz campanha contra ele, movida por nacionalistas franceses, acabou espalhando o ódio aos judeus pelo país. Mas Zemmour insiste que o Estado-Maior francês tinha boas razões para suspeitar de Dreyfus, posto que era “alemão”. Na verdade, era alsaciano. Sua família optou pela cidadania francesa e mudou-se para Paris, depois que a Alemanha conquistou a Alsácia, região ao Norte da França, na Guerra Franco-Prussiana (1870-71). Não surpreende que a organização monarquista e antissemita que liderou os ataques a Dreyfus, a Ação Francesa – criada no fim do século XIX e que existe até hoje –, poste vídeos de Zemmour em seu canal no YouTube.
Condenar as declarações do jornalista como antissemitas não é algo difícil de fazer, mas esbarra sempre no fato de que ele é de origem judaica. Alguns judeus, entretanto, não temem o paradoxo, como o economista e escritor Jacques Attali, que definiu Zemmour como um “judeu antissemita”. Mas até franceses de origem judaica costumam estar no alvo do polemista, como o filósofo Bernard-Henri Lévy, que Zemmour acusou de “traição”, dizendo que ele se esmera em criticar a história da França e defender todos os nacionalismos do mundo, como o israelense ou o curdo, exceto o nacionalismo francês. Lévy tem alertado sobre os riscos do revisionismo histórico do polemista, que ele definiu como uma “ofensa ao nome judeu”.
Zemmour despreza quaisquer particularismos étnicos porque, no seu entender, negam a unicidade da França. Rejeita também a vitimização do país pelos próprios franceses, pois isso coloca em questão a natureza infalível da nação mítica que ele quer restaurar – branca, cristã e ideologicamente homogênea, alinhada a um discurso nacional dominante. Para ele, existe uma França somente, cuja história é grandiosa – e ele a exime de todo “pecado”. Dessa maneira, a demanda por justiça ou reparação dos judeus seria uma afronta ao país, que, aos seus olhos, não maltratou seus judeus porque seria incapaz de fazê-lo, uma vez que é a nação essencial, quase angelical.
Ao condenar qualquer referência na história francesa a questões judaicas e ao sofrimento do povo judeu, e ao criticar a postura dos judeus franceses, Zemmour, apesar de não ser propriamente um antissemita, realiza algo insidioso: reintroduz, pelo negativo, o antissemitismo no discurso público, tornando-o aceitável. Suas palavras liberam o discurso dos antissemitas, que até pouco tempo mantinham-se acuados e quietos.
AFrança possui um longo histórico de antissemitismo, embora tenha sido um dos poucos países, à exceção de Israel, a ser comandado por judeus – como Léon Blum (1872-1950) e Pierre Mendès France (1907-82), importantes primeiros-ministros socialistas. O caso Dreyfus dividiu o país em dois e “marcou a sociedade francesa com ferro em brasa”, como disse o político Jean Jaurès (1859-1914). De um lado, a França monarquista, retrógrada e antissemita. De outro, a França republicana, tolerante e de inclinação democrática, formada tanto por liberais como por socialistas. Durante o regime autoritário de Vichy, os judeus foram destituídos da cidadania francesa e enviados a campos de concentração. Três décadas após o fim da Segunda Guerra, em 1975, o antissemitismo voltou à tona, tornando-se a principal arma retórica de desestabilização contra a ministra da Saúde, Simone Veil, que defendeu a legalização do aborto, legalizado no país no mesmo ano.
“O que ninguém fala é do papel que o elemento judeu desempenhou na dolorosa agonia de uma nação tão generosa; é do papel desempenhado na destruição da França pela introdução de um corpo estranho em um organismo até então saudável.” Esta passagem foi tirada de La France Juive (A França judia), o famigerado livro do jornalista Édouard Drumont (1844-1917), político antissemita de extrema direita. Basta trocar “judeu” por “muçulmano” e temos aí uma típica argumentação de Zemmour, o que dá a dimensão monstruosa de suas ideias e demonstra como elas restauram, em outro diapasão, antigos preconceitos franceses. Nem mesmo o fato de os judeus da Argélia, dos quais descende Zemmour, terem sido despojados de sua cidadania durante a Segunda Guerra contribuiu para que o jornalista ponderasse sobre sua repulsa pela presença de estrangeiros na França.
Mas o país também reagiu com vigor ao antissemitismo, implantando em 1990 as famosas leis de memória, que interditam e condenam a negação, a minimização e a justificação do genocídio dos judeus pelo nazismo. O fato de o antissemitismo estar banido da esfera pública não significa, entretanto, que tenha desaparecido – ocorre de maneira discreta em todas as classes sociais francesas, acrescido agora dessa outra camada de intolerância com relação aos muçulmanos. Zemmour é o álibi perfeito dessa gente, pois diz com todas as letras aquilo que parece entalado na garganta delas.
O jornalista tem perfeita consciência disso e constrói todo o seu discurso à maneira como, no passado, se praticou o antissemitismo militante. Com a diferença de que, em vez de acusar os judeus, aponta na direção dos muçulmanos, inclusive os nascidos na França, que ele não vê como franceses e encara como ameaça, dizendo que constituíram uma comunidade à parte no país, por causa de sua religião e por recusarem a assimilação. Zemmour é explícita e despudoradamente racista, derramando ódio e desprezo sobre os muçulmanos e tentando instilar, com eles, medo nos franceses.
Uma das características mais admiráveis da sociedade francesa é que a democratização dos valores republicanos passa por um amplo debate público, por meio do consumo de livros de conteúdo político e da confrontação de ideias em programas da tevê aberta. Alguns dos programas mais populares no país nas últimas décadas continham debates assim, do qual participam políticos, jornalistas, escritores e acadêmicos. É algo que pouco se vê no Brasil e mesmo nos Estados Unidos, onde os debates de ideias estão reservados a uma elite, em geral nas tevês a cabo. A popularização das discussões tem contribuído para a qualidade da democracia francesa e para o nível de consciência política da população.
Mas foi em programas desse tipo que o grande público descobriu Zemmour. Editorialista de jornais de direita, em 2006 ele lançou seu primeiro livro polêmico, Le Premier Sexe (O primeiro sexo), no qual expunha sem pudor toda a sua misoginia. A partir de então, passou a ser convidado com frequência para os debates televisivos, nos quais em geral era confrontado com feministas. Como se mostrava capaz de dizer o indizível e desqualificar todo interlocutor, o jornalista começou a arrebanhar cada vez mais audiência – até ser convidado a tornar-se comentarista fixo de um dos programas de maior audiência da televisão pública, On n’Est Pas Couché (Não estamos dormindo), exibido até o ano passado no canal France 2.
A função de Zemmour no programa era ser “do contra”, aquele sujeito impiedoso nas suas críticas e que dava um jeito de arrumar sempre alguma altercação. Em 2011, quando foi demitido, já havia se tornado um sucesso midiático. Diferentes canais privados logo lhe ofereceram um programa, apesar de o jornalista ter sobre as costas uma condenação por injúria racial. A partir de então, todos os seus programas na rádio (entre 2010 e 2016) e seu programa diário de tevê, Face à l’Info (entre 2019 e 2021), foram na forma de debate: Zemmour recebe o convidado e seu objetivo é tentar abatê-lo.
Muitos intelectuais franceses de todos os espectros políticos foram convidados por ele e, ao aceitarem o convite, validaram o lugar de Zemmour como entrevistador e personagem público. Agora, não é raro que ele faça duas ou três aparições por dia no rádio e na tevê. Graças ao YouTube, essas aparições – que antes teriam desaparecido no éter – são preservadas e vistas, nos dias subsequentes, por milhares de pessoas.
Seus mais de trinta anos de jornalismo lhe conferem grande habilidade para lidar com a imprensa. Zemmour manipula a mídia a seu favor, sabendo exatamente o que dizer para garantir o máximo de foco na sua pessoa. Isso faz com que receba mais convites para se pronunciar, mais atenção da imprensa e mais público a cada vez. É difícil não suspeitar que cada novo escândalo suscitado por ele nada mais seja do que um outro ato seu de manipulação da mídia.
Em setembro passado, a revista Paris Match publicou fotos comprometedoras do jornalista, que é casado, em um resort à beira-mar ao lado de uma assistente, 35 anos mais nova. Há grande probabilidade de que, ao se expor a um eventual paparazzo, Zemmour soubesse exatamente o que estava fazendo: com as imagens encontraria uma forma de demonstrar sua virilidade e apelar ao machismo de parcela do público francês, aquele que está predisposto a votar nele. O debate sobre as imagens na Paris Match dominou os programas políticos, que também se perguntaram se era ético ou não publicar as fotos, e se a vida privada de uma personalidade pública poderia ser exposta como foi.
As discussões ampliaram o interesse por Zemmour. Como ele nunca confirmava a sua candidatura, outra questão que circulava diariamente na mídia era esta: será ele candidato ou não? A pergunta rebatia no próprio trabalho da imprensa: as ações de Zemmour deveriam ser consideradas como as de um pré-candidato presidencial ou não? O mero fato de alguém participar de uma discussão com ele já não significa legitimar a sua visão de mundo e da política?
A imprensa, que sempre soube criticar os partidos antidemocráticos, normalizou Zemmour completamente, tratando-o com mais complacência do que a reservada aos políticos “populistas” de direita, como Marine Le Pen, ou de esquerda, como Jean-Luc Mélenchon (do partido França Insubmissa). Programas de rádio e de tevê inventam tópicos de debate a respeito do jornalista: “Seria Zemmour racista?”, “Seria sexista?”. São perguntas totalmente retóricas, tão inúteis quanto indagar se Lênin era comunista.
Apesar do enorme impulso que recebeu da imprensa (como Trump, aliás), Zemmour decidiu que ela é sua inimiga e fala em “reduzir o poder da mídia”. Em uma feira comercial de equipamentos de segurança, apontou um fuzil para jornalistas que o acompanhavam na visita e depois disse: “Parou de rir, hein? Cai fora, recua, recua.” Ele tratou aquilo como brincadeira, mas não foi desse modo que a imprensa recebeu o gesto, mas como algo injurioso e ameaçador.
A blague com o fuzil ocorreu poucos dias depois de Zemmour visitar a cidade de Béziers para o lançamento do seu último livro. Na ocasião, ele disse: “Temos contrapoderes que se tornaram um poder, ou seja, o sistema judiciário, a mídia e as minorias. Devemos acabar com o poder desses contrapoderes.” Já ouvimos coisa semelhante no Brasil, vale dizer. Os ataques à mídia são frequentes da parte de Bolsonaro, que durante a campanha eleitoral chegou a dizer que as minorias teriam que se “dobrar” às maiorias. Seus constantes ataques também ao Judiciário e ao Legislativo mostram o quanto a extrema direita global deseja uma tirania da maioria.
Zemmour simulou atirar em apenas um de seus inimigos – a imprensa –, mas outros estão na sua mira. Ele faz o seu público acreditar que só aumenta o número de seus inimigos, que, na sua concepção, são também inimigos da França.
Ofato de Zemmour não ter ainda um partido político está longe de ser uma anomalia na França, onde não é raro um candidato presidencial se destacar politicamente antes mesmo de estar filiado a uma legenda. Partidos já foram criados exclusivamente para servir de sustentação a um político que visava a Presidência, como ocorreu com Charles de Gaulle (com o partido Reunião do Povo Francês, em 1947, e o União para a Nova República, em 1958), Giscard d’Estaing (com o União pela Democracia Francesa, fundado em 1978) e Emmanuel Macron (que fundou em 2016 o partido República em Marcha). A própria Frente Nacional foi criada para sustentar a candidatura presidencial de Jean-Marie Le Pen. Nenhum país europeu se compara à França em sua receptividade à construção de um partido em torno de um homem providencial. Legendas focadas principalmente na eleição de um candidato pareceriam mais prováveis em um sistema parlamentar, mas o caso francês e o de Bolsonaro provam que, mesmo em sistemas presidencialistas, isso pode ocorrer – com sucesso.
Além de não estar ligado ao mundo da política, Zemmour tem poucos elos com a tecnocracia estatal. A administração do Estado francês sempre foi dominada por membros da elite que se formaram nas melhores escolas do país, como a Escola Normal Superior (ENS) e a Escola Nacional de Administração (ENA). Ninguém exemplifica isso melhor do que Macron, que representa a apoteose do tecnocrata de elite. Mas o surgimento dos coletes amarelos mudou completamente as coisas. Esse movimento, que mesclou ideias de direita e esquerda, está unido em torno do ódio aos políticos (tem recusado a presença deles nas manifestações) e, principalmente, dos tecnocratas.
Zemmour, o suposto forasteiro, na verdade frequentou outra escola de elite – o Instituto de Estudos Políticos de Paris (Sciences Po) –, mas se ressente por não ter passado no concurso da ENA. Posicionado fora do terreno dos políticos e dos tecnocratas, sem nunca ter ocupado nenhum cargo público, o jornalista está perfeitamente posicionado para se tornar a voz que expressa os muitos ódios e ressentimentos da chamada “França profunda” – a classe média branca provinciana, os pequenos comerciantes, os trabalhadores rurais em crise e os operários pauperizados – e sua ramificação entre os coletes amarelos.
Ele também é contra a vacina obrigatória para profissionais de saúde e o passe sanitário. Não quis se vacinar quando as pessoas de sua faixa etária estavam sendo imunizadas, dizendo que não tinha pressa. O flerte com o discurso antivacina, porém, não é exclusividade dele. Alguns setores da esquerda fazem o mesmo, sempre recorrendo ao argumento da liberdade individual de escolha.
Avisão de mundo de Zemmour está mais plenamente expressa em seu livro Le Suicide Français, que vendeu mais de 250 mil cópias. O livro pretende traçar os passos do “declínio” da França, desde a morte do presidente De Gaulle, em 1970. Grandes e pequenos eventos são escolhidos pelo jornalista para provar que está havendo a destruição intencional – pela esquerda e pelos imigrantes – de uma nação outrora poderosa. Entre esses eventos, ele cita o pedido de desculpas do presidente Jacques Chirac, em 1995, pela colaboração francesa no Holocausto, e a não celebração, em 2005, do bicentenário da vitória de Napoleão na Batalha de Austerlitz – tido como um momento de glória do avanço universal do “espírito francês”, apesar da derrota de Napoleão dez anos depois, em Waterloo. Ele chega a criticar o filme Era uma Vez: Vincent, François, Paul e os Outros (1974), do diretor Claude Sautet, que trata da crise de meia-idade de um grupo de amigos, mas é interpretada por Zemmour como a expressão cinematográfica do “crepúsculo do homem heterossexual branco”.
Em Le Suicide Français tem grande destaque a vitória francesa na Copa do Mundo de 1998, que à época, por reunir no campo e fora dele pessoas de diferentes etnias, foi celebrada como a expressão de uma nova França que surgia, a vitória do modelo de assimilação social do país. No julgamento xenofóbico de Zemmour, a celebração nacional foi um equívoco. Para ele, o país estava dando um passo a mais rumo ao declínio, ao substituir o azul, branco e vermelho da bandeira francesa pelo preto, branco e beur da seleção étnica mista (beur é um termo pejorativo que designa os descendentes de pessoas da região do Magreb).
A vitória na Copa foi a ocasião para um “festival do retorno às origens [dos jogadores], que vieram de todos os lugares, exceto do solo da França”, diz Zemmour, que acrescenta: “O uso do futebol para fins ideológicos, nacionalistas e políticos tinha sido até então o apanágio de regimes autoritários. […] Os mesmos métodos foram emprestados pelos movimentos antirracistas e multiculturais em uma França de 1998 que queria acreditar em milagres.”
Na visão de Zemmour, a equipe francesa só venceu a Seleção Brasileira por 3 a 0 porque foi liderada com mão de ferro pelo treinador Aimé Jacquet e pelo capitão Didier Deschamps, “dois homens de profundas raízes francesas, puros produtos da França rural e operária”. Ele afirma que as grandes seleções francesas do passado eram iguais à campeã de 1998 e “foram unidas pelos valores da França tradicional”, “onde o sentido da honra, o respeito pelos mais velhos, a humildade individual que se perde e cresce dentro do grupo, sem falar do amor à pátria, não eram apenas palavras”.
A inversão dessa mentalidade, segundo Zemmour, resultou na Copa de 1998. Prova disso, ele exemplifica, foi o pedido do lateral Lilian Thuram – nascido em Guadalupe, departamento francês no Caribe – para que fizessem “uma foto de todos os negros” da seleção. Depois, os jogadores se tornaram “arautos” da causa dos países de onde eles ou seus pais provêm, o que explica porque multidões de torcedores franceses cujas origens estão na Argélia, no Marrocos ou na Tunísia resolveram vaiar o hino nacional da França em várias ocasiões. Zemmour considera que essa reação prova que a nova França preta, branca e beur não passa de ilusão. A valorização da diversidade étnica teria transformado a seleção francesa em um espelho mais das periferias, onde se concentra a população não branca, do que da própria nação.
Os erros da celebração de 1998, especula Zemmour, resultaram no fiasco da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Nesse torneio foi servida comida halal (conforme os preceitos religiosos do islã) aos jogadores, e um grupo deles, liderado por Franck Ribéry francês da gema (quer dizer: branco) convertido ao islamismo, se rebelou contra o técnico do time e deixou o torneio. Não teria sido o péssimo futebol apresentado pela seleção francesa, mas a “falta de patriotismo” a causa da vexatória eliminação ainda nas quartas de final. “O futebol, hipermediatizado para a defesa conjunta de enormes interesses comerciais e da nobre causa do antirracismo, lançou uma luz forte sobre a doença mortal de uma França que a mídia costumava esconder”, reclamou o jornalista. Como enxerga decadência até mesmo nos momentos de triunfo da França, ele é incapaz de compreender uma derrota.
Amensagem de Zemmour é simplista. Seu discurso nostálgico, que é incapaz de ver as transformações atuais da França com alguma positividade, parece um revival das ideologias do século XIX que propagavam a “missão civilizatória” do país – e serviram de combustível para a cruel colonização na África e na Ásia. Ele não tem receio, aliás, de defender o antigo sistema colonial, aplaudindo a conquista da Argélia por ter expandido o império francês, espalhado no país africano uma série de “benefícios”, como estradas, escolas e hospitais, e libertado os berberes (povos do Norte da África, entre eles os argelinos) do jugo árabe. O ódio de Zemmour pelos árabes não se limita aos que moram nas periferias das cidades francesas. É o povo árabe como um todo que ele vê como o inimigo maior da civilização.
A rápida ascensão de Zemmour é motivo de medo na França. Mas o país sempre soube formar frentes democráticas para barrar a extrema direita. A mais notável foi a de 2002, que impediu o avanço de Jean-Marie Le Pen, depois que ele chegou ao segundo turno nas eleições presidenciais. O presidente Jacques Chirac, candidato da direita que disputava a reeleição, ousou inclusive dissolver o seu partido, o Reunião pela República, para que a “frente ampla” incorporasse todos os espectros políticos.
Rapidamente, os partidos Socialista (PS) e Comunista Francês (PCF) se juntaram às legendas de centro e de direita a fim de obter votos para Chirac. Numerosas e volumosas manifestações se sucederam nas ruas contra Le Pen. Ficou célebre a frase do então secretário-geral do PCF, Robert Hue: “A dignidade política requer, hoje, a coragem política de fazer de tudo, sem a menor hesitação e por um engajamento sem restrição, para derrubar Le Pen.” A união popular deu certo, e Chirac foi reeleito com 82% dos votos. Foi uma verdadeira aula de democracia.
Em 2017, quando a extrema direita chegou novamente ao segundo turno, com Marine Le Pen, a frente ampla não teve o mesmo sucesso. Embora Emmanuel Macron seja menos conservador que Chirac, não conseguiu contagiar nem o eleitorado de direita nem o de esquerda, apesar do apoio dado pelo Partido Socialista. Também não houve manifestações equivalentes às de 2002, e o principal candidato da esquerda (apoiado pelo PCF), Jean-Luc Mélenchon, declarou que não endossaria Macron, que afinal ganhou com 66% dos votos. Se no Brasil foram os liberais e tucanos que normalizaram a extrema direita em 2018, na França coube à esquerda fazê-lo.
As pesquisas apontam que, no pleito do ano que vem, o presidente francês, que tentará a reeleição, leva vantagem, embora o cenário caótico conspire em favor de Zemmour. Faltam ainda quatro meses para o primeiro turno, mas o polemista já obteve um trunfo: legitimou a extrema direita, o racismo e o antissemitismo no debate público francês. - (Fonte: Revista Piauí - Aqui).
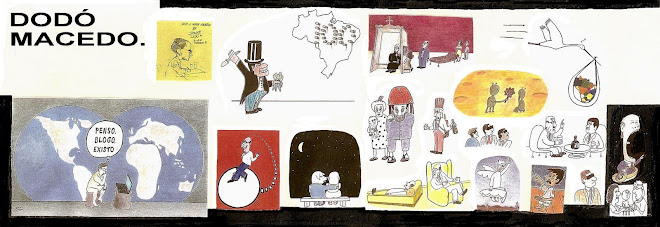

Nenhum comentário:
Postar um comentário