Nos anos 1960 havia um otimismo generalizado entre os utopistas tecnológicos de que um dia os computadores poderiam pensar como seres humanos. Eram ainda épocas em que todas as pesquisas no campo da Cibernética e Inteligência Artificial estavam orientadas pelo paradigma antropocêntrico: seja o corpo ou a mente, as máquinas tentariam emular os humanos, seja através de servomecanismos ou pela busca da autonomia e senciência digital – a definição da inteligência humana.
O humanismo ainda era o centro do desenvolvimento tecnológico. Mesmo no computador distópico HAL 9000 que pretendia eliminar a tripulação da nave Discovery a caminho de Júpiter, no filme 2001: Uma Odisseia no Espaço, de Kubrick (para a máquina, uma decisão racional para eliminar o “erro” humano que potencialmente poderia colocar em risco a missão), a maior inteligência artificial falhava por não conseguir emular a “alma” humana.
Porém, a partir dos anos 1980 o conceito de Inteligência Artificial abandonou o paradigma humanista para ingressar nos projetos de desenvolvimento de algoritmos capazes de transformar o Big Data das redes em lucrativas estimativas probabilísticas (como o computados Alladin da empresa de gestão de riscos BlackRock que manipula 7% dos ativos financeiros mundiais) ou estabilizar o ego dos indivíduos que abandonam o real para se protegerem nas bolhas das redes sociais e fugirem das complexidades do mundo.
Mas, apesar dessa mudança de paradigma, o conceito de “Inteligência” ainda permanece, porém, numa irônica paródia: a “superinteligência”, recurso de retórica propagandística para reduzir os nossos padrões e expectativas sobre inteligência.
Enquanto as compras na Internet chegam em nossas casas, enquanto luzes acendem e ar-condicionados ficam na temperatura certa ao comando da nossa voz ou a IA Alexa sabe a nossa play list de cor e salteado, acreditamos que tudo isso é “inteligência” – confundida com “conveniência”.
Se simplificarmos tanto a nossa ideia de inteligência, as máquinas poderão finalmente realizar o projeto de HAL 9000. Não porque ficaram “inteligentes”. Nós é que nos tornamos burros por acharmos que os computadores são realmente inteligentes.
Essa é a discussão de fundo de uma comédia maluca de ficção científica francesa chamada Bigbug (2022, disponível na Netflix), sobre robôs e inteligências artificiais, dirigida e escrita pela dupla de longa data Jean-Pierre Jeunet e Guillaume Laurant de produções como A Cidade das Crianças Perdidas (1995), Amélie (2001) e Micmacs (2010).
Tudo se passa em uma casa de subúrbio de classe média em 2045. Computadores, robôs e IA controlam tudo através de uma rede de conveniências que vai de abrir a uma simples lata de ervilha na cozinha, acionar pequenos robôs que limpam a casa, a uma extensa rede que controla todas as máquinas da cidade, como a Skynet do clássico Exterminador do Futuro.
Toda a ação se passa no interior de uma casa na qual uma família está prisioneira depois que um protocolo de segurança foi automaticamente acionado: a IA chamada “Nestor” e um conjunto de robôs domésticos leais cerraram todas as portas e janelas para proteger a família de um gigantesco “bug” – uma raça militarista de androides chamada Yonyx (que parecem o androide policial Murphy de Robocop) estão dando um golpe de Estado quando assumem o comando da Internet das coisas, provocando um gigantesco congestionamento que aprisiona os humanos em seus carros automáticos.
Todo o humor sociopolítico de Bigbug vem do contraste entre os humanos (tão confortáveis com os gadgets excêntricos que abdicaram das suas próprias inteligências) e as máquinas e os oniscientes algoritmos que automatizaram as funções mais básicas do cotidiano – tal como o HAL 9000, chegaram à conclusão de que a humanidade é um “ruído” que deve ser eliminado da equação.
O Filme
Toda a ação de Bigbug se desenrola no interior de uma residência como fosse uma reality show. Elsa Zylberstein é a dona da casa, uma mulher recém-separada com uma filha adolescente adotiva (Marysole Fertard). Ela convidou seu novo namorado (Stéphane De Goodt) e seu filho (Helie Thonnat ) para uma visita ao mesmo tempo em que seu marido (Youssef Hajdi) e sua secretária/amante (Claire) estão se preparando para sair de férias.
Por trás de todas as respectivas tensões sexuais e hostilidades passivo-agressivas dos humanos entre si, rodam as complexas camadas hipertecnológicas domésticas e sociais.
Várias gerações de tecnologia são representadas na tela. A filha tem um robô de brinquedo pequeno e comparativamente simplista que costumava ser seu companheiro de infância; é brilhante e branco e tem uma cabeça redonda e membros arredondados.
Há um pequeno roover com pneus aderentes, braços retráteis expansíveis e pescoço — um robô doméstico que vemos pegando coisas, limpando o piso e ajudando na cozinha.
Também há um robô com um rosto de fios de espaguete de latão e pernas curtas de inseto conhecido como Einstein (dublado por André Dussollier) que coordena os outros robôs de geração mais antiga. Há uma humanoide (Claude Perron) que se assemelha às fantasias de uma empregada doméstica da década de 1960 da animação Os Jetsons. E há uma IA invisível a qual os habitantes acessam sempre que desejam controlar exibições de vídeo ou áudio, aumentar ou diminuir o calor ou o frio ou abrir as portas para sair ou admitir visitantes.
Diante do caos urbano, a IA caseira Nestor tranca todos os protagonistas na casa. E não importa o que façam ou tentem, não conseguem abrir as portas, criando um cenário típico do grande diretor espanhol Luis Buñuel nos filmes O Anjo Exterminador e O Discreto Charme da Burguesia – sátiras sobre uma mimada e complacente classe média alta presa sob um mesmo teto. Se em Buñuel os motivos são surreais ou metafísicos, aqui em Bigbug tudo se origina na tecnologia que, de tão precisa, onipresente e intrusiva, alcançou um estado de “hipertelia”: estado de “vanish point” do desenvolvimento no qual a obesidade tecnológica chega a tal ponto de complexidade que ocorre uma paradoxal inversão da finalidade inicial, tendendo à inutilidade, inércia, disfuncionalidade. Ponto de viragem tecnológica que inviabiliza a finalidade inicial para a qual o sistema foi construído.
Prisioneiros nessa parafísica tecnológica, são forçados a se confrontar e reabrir velhas feridas pessoais, ao mesmo tempo em que a cada momento planejam alguma artimanha para ludibriar a IA chamada Nestor e escapar da prisão domiciliar.
Idiotizados pela autoabdicação da própria inteligência (entregue a uma suposta inteligência tecnológica) e imersos nos conflitos pessoais, simplesmente ignoram o que está acontecendo no entorno: os androides Yonyx estão assumindo os sistemas de IA – zombam dos humanos e estão criando uma ditadura intimidatória na qual qualquer um que questione sua autoridade será vítima de penalidades legais exorbitantes, com pesadas multas.
A obsolescência planejada humana
Acompanhamos na abertura do filme vislumbres de um game show chamado “Homo Ridiculus” produzido pelos Yonyx no qual os humanos são humilhados e feridos, lembrando a política de pão e circo do velho Império Romano.
Bigbug faz parte de uma tradição de filmes de ficção científica em que o contraste entre robôs e IA versus humanos nos faz pensar sobre o que significa a humanidade. Porém, Bigbug marca uma diferença: os cineastas sugerem que as máquinas que planejam nos escravizar ou nos destruir estão apenas completando uma campanha coordenada de obsolescência planejada na qual o “cancelamento” das gerações de sistemas mais antigos alcança até o sistema humano.
O lawfare dos Yonyx (processos e multas pesadas contra quem sequer seja suspeito de terrorismo) combina com a clássica repressão de Estados totalitários como queima de livros (uma tecnologia condenada à “obsolescência planejada”) e a tortura ritualizada de prisioneiros em reality shows na TV.
Bigbug é uma comédia burlesca, mas representa de forma parabólica uma tendência invisível, lenta e até aqui implacável: o fenômeno da autoabdicação humana – o rebaixamento da noção de inteligência, permitindo-nos humanizar as máquinas e aplicativos.
A propaganda das novas tecnologias nos induz a acreditar que algoritmos, aplicativos etc. são, de fato, ferramentas realmente inteligentes. Para acreditarmos nisso, temos que obrigatoriamente reduzir os nossos padrões de inteligência humana – o exercício diário de tratar máquinas ou aplicativos, como por exemplo Waze ou Google Maps, como formas de inteligência reais. O que resulta num senso de realidade cada vez mais flexível.
Fenômeno de inversão: enquanto os computadores parecem se humanizar (com IAs de vozes sedutoras nos oferecendo prazer e conveniência), os usuários se tornam “processadores de informações”, rebaixando os padrões sobre o que entendemos como inteligência.
Assim como a idiotizada classe média sedenta por conveniências cotidianas figurada em Bigbug, também no mundo real nos isolamos em nossas bolhas, deixando de fazer uma simples indagação: quem é o dono do hardware? Quem é a elite tecnológica-empresarial que extrai do Big Data padrões dos nossos comportamentos e atitudes para prever tendências sociais e políticas?
Em Bigbug, essa elite dona do hardware é formada pela rebelião dos androides contra os humanos. Mas no mundo real, é mais demasiado humano: é o complexo corporativo-governamental-militar. - (Fonte: Cinegnose - Aqui).
Ficha Técnica |
Título: BigBug |
Direção: Jean-Pierre Jeunet |
Roteiro: Jean-Pierre Jeunet e Guillaume Laurant |
Elenco: Isabelle Nanty, Elza Zylberstein, Claude Perron, Youssef Hajdj, Stéphane De Groodt |
Produção: Gaumont, Eskwad |
Distribuição: Netflix |
Ano: 2022 |
País: França |
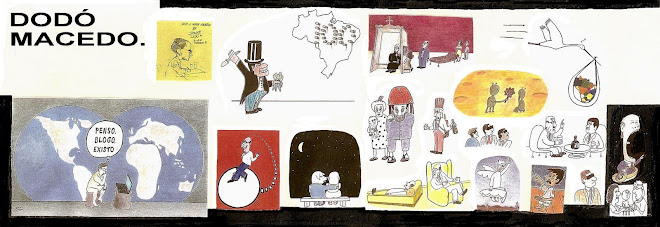





Nenhum comentário:
Postar um comentário
Faça o seu comentário.