"... a deputada Bia Kicis 'freakou': 'Que coisa mais asquerosa. É o famoso 'ódio do bem' que passa desapercebido pelos defensores da 'democracia'. Uma criança segurando a cabeça do presidente Jair Bolsonaro. E se fosse a cabeça da Marielle? Ou do Lula? Ou de algum ministro do STF? Mas os intolerantes somos nós', disse a parlamentar". / Nota deste Blog: A deputada está correta em seu questionamento - mas essa mesma parlamentar considera moralmente defensáveis os atos que pratica em defesa de suas convicções, como compartilhar postagem contra ex-ministros ora oponentes do Presidente, os quais, desempregados, estariam "se pintando de preto para fingir que são negros e conseguir uma vaga na 'política de inclusão do Magazine Luiza'." (Aqui e Aqui).
Por Wilson Ferreira
Ataques massivos de hackers de extrema-direita estão derrubando lives acadêmicas com temáticas progressistas revelando o campo mais bruto da guerra semiótica: os ataques cibernéticos em uma terra de ninguém no qual hackers agem livres como as gangs no deserto distópico de “Mad Max”. Escandalizada, a esquerda ainda crê no senso de obrigação moral a direitos universais ou republicanos, simplesmente ignorando o paradigma comunicacional da viralização. Séries ficcionais como a segunda temporada de “The Boys” (2019-) e o documentário “O Dilema das Redes” (2020) mostram como a tática de viralização leva ampla vantagem sobre as estratégias tradicionais de propaganda. Restará à esquerda lutar no mesmo campo semiótico da extrema-direita, mesmo que seja nos limites da moral e da ética. Como mostra a “violência metafórica” do “Freedom Kick” do coletivo de artistas ativistas “Indecline”: vídeos de protesto com esculturas de cabeças hiper-realistas de Putin, Trump e... Bolsonaro – chegam aos países afetados pelas suas políticas para os seus opositores jogarem futebol com elas. A esquerda precisa de harckers e "artivistas".
Eleições se aproximam e a guerra cibernética começa nas redes. Como sempre, com um único lado atuante no campo de batalha: a extrema-direita.
Nos últimos dias, foram mais de 20 alvos de “zoombombing” (massivo ataque de hackers em videoconferências na Internet pela inserção de material obsceno, discriminatório, ameaças etc., resultando no final da sessão) em transmissões online acadêmicas de temas como racismo, feminismo, preservação da Amazônia, violência policial, discussões sobre as relações polícia e sociedade etc.
As ações afetaram transmissões de universidades federais e estaduais de pelo menos nove Estados e do Distrito Federal. Os atacantes invadiram salas de aplicativos e passaram a exibir imagens pornográficas e a xingar os participantes. Fizeram barulhos, gritos e tocaram músicas para impedir que os debatedores fossem ouvidos. Foi o que aconteceu às 19h40 de 19 de agosto com a professora Maria Helena de Castro Santos, do Instituto de Relações Internacionais (IREL), da Universidade de Brasília (UnB) – clique aqui.
De repente, a audiência na plataforma online dá um salto. Em segundos, começam os ruídos desconexos, a música alta, os xingamentos, gritos e pornografia.
A discussão sobre fake news, pós-verdades e fabricação de memes acabou nos últimos tempos monopolizando a discussão da utilização das mídias sociais no campo da guerra política semiótica. Chamaram a atenção para aqueles conteúdos virais que conseguem ultrapassar os limites das bolhas sociais criadas pelos algoritmos que criam as polarizações de opiniões nas redes.
Porém, os episódios descritos acima revelam outro campo mais “hard” da guerra semiótica: a guerra cibernética – hackers que deliberadamente criam ruídos nas comunicações do oponente. Grupos militantes com papel análogo ao desempenhado pelas SA, as milícias paramilitares nazistas: jovens desempregados que perambulavam pelas ruas e eram recrutados para criar tumultos, agitações e invasão de lugares nos quais reuniam-se opositores políticos de Hitler.
Guerra cibernética + guerra semiótica viral formam esse campo desértico no qual a extrema-direita atua sem embaraços, tal como aquelas gangs correndo livremente pelas terras desoladas pós-apocalípticas no filme Mad Max.
Série The Boys: a propaganda é patética!
A propósito, muitos filmes atuais estão conseguindo simbolicamente representar através da ficção essa disparidade de estratégias de comunicação: a tática de viralização levando ampla vantagem sobre as estratégias tradicionais de propaganda, publicidade e marketing – massificação, panfletagem, público-alvo, amostragens etc.
 |
| Tempestade versus Capitão Pátria: Propaganda X Viralização |
Um exemplo é a série da Amazon The Boys (2019-), agora na segunda temporada. Para quem não conhece a série, ela é baseada na HQ escrita por Garth Ennis: um universo alternativo no qual os super-heróis se transformaram em objeto de um vasto aparato corporativo que cuida das suas imagens, com uma equipe de relações públicas e advogados. Prontos para abafar qualquer escândalo decorrente de seus “efeitos colaterais” – o principal deles, o projeto de golpe político para que a empresa que os assessora tome o poder do Estado.
A megacorporação Voight controla o grupo de super-heróis chamado “The Seven”, liderado pelo Capitão Pátria (um mix de super-homem e Capitão América imaturo, hipernarcisista e amoral) – o Cinegnose já analisou a série: clique aqui.
Até que surge uma misteriosa super-heroína chamada Tempestade (“Stormfront”) que rouba a liderança e o sucesso do Capitão Pátria.
Desafiado em sua liderança, Capitão Pátria vê o crescente sucesso da sua rival nas redes sociais e na opinião pública, roubando totalmente a cena e se tornando a nova líder feminina dos The Seven. Indignado, Capitão Pátria chama Tempestade às falas, em linhas de diálogo que explicitamente refletem o sucesso das estratégias comunicacionais atuais da extrema-direita:
Tempestade fatura em cima das denúncias de corrupção na corporação Voight que explodem na mídia. Ela recruta seus “soldados” putos com as denúncias que acabam criando uma espécie autogolpe dentro da corporação Voight, mantendo tudo como está – a corporação e seu projeto secreto de assumir o poder do Estado.
Capitão Pátria ainda raciocina dentro do velho paradigma da propaganda nas mídias de massas, enquanto Tempestade prefere criar um núcleo duro, pequeno, mas atuante, de “soldados” que militam na guerra cibernética e na viralização de memes, e não mais na massificação de slogans.
São dois campos semióticos excludentes: massificação versus viralização. Capitão Pátria não consegue entender esse novo paradigma: para ele, tudo não passa de “puxada de tapete”.
Tempestade e seu grupo de hackers (pagos com lanches) exploram os interstícios do sistema, a “terra de ninguém” desregulamentada do ciberespaço na qual os algoritmos das gigantes tecnológica como Facebook ou Google mineram o Big Data dos usuários, criando vício, dependência e o subproduto político: polarização e percepção da realidade a partir de bolhas virtuais.
O autogolpe de “O Dilema das Redes”
Como muito bem descreve o novo documentário Netflix O Dilema das Redes (a próxima postagem desse Cinegnose): a destruição da democracia através da manipulação dos dados privados dos usuários que gera gigantescos lucros para as bigtechs.
O problema de todos esses documentários que pipocam nas plataformas de streaming desde a eleição de Trump (Privacidade Hackeada, The Great Hack, Sujeito a Termos e Condições etc.) é que terminam sempre com a mesma conclusão de O Dilema das Redes: nós, usuários, somos vítimas de um “modelo de negócios corrosivo” – como se toda a questão que envolve as Bigtechs fosse apenas um problema de filosofia de gestão, e não um problema que envolva a própria natureza do capitalismo: transformar um bem de interesse público em objeto de lucro privado.
Ao final, encontramos o mesmo desfecho da série The Boys: o autogolpe, no qual a gigante corporativa denuncia a si própria para manter tudo como está. Ou melhor, para criar um tipo de manipulação da opinião pública ainda mais insidioso e invisível.
Propostas que mais parecem aquela situação de querer frear um carro segurando no ponteiro do velocímetro (taxar com impostos a manipulação do Big Data pelas empresas, criar “designers éticos” que atuem nas corporações – seja lá o diabo o que isso significa) apenas revelam que o sistema capitalista muda para continuar tudo na mesma. Afinal, os governos de extrema-direita que assumem as democracias destruídas sempre adotam a agenda neoliberal que, em última instância, sempre beneficia o esquema de negócios das gigantes tecnológicas.
Por isso a esquerda não pode esperar por soluções “kantianas” ou “iluministas" (a crença na boa vontade ou o senso de obrigação moral a direitos universais ou republicanos): uma regulamentação definitiva em que a democracia retorne, definitivamente, aos trilhos da História.
Resta à esquerda (e ao Capitão Pátria) também atuar no novo campo semiótico que a extrema-direita abriu e onde atua livre e solta. Isso significará para a esquerda muitas vezes atuar nos limites éticos e morais. Em outras palavras: também colocar “a mão na merda”.
Assim como na Umbanda ou Candomblé onde entidades superiores hierarquicamente como Orixás, Caboclos ou Pretos Velhos necessitam dos préstimos dos Exus, os espíritos ligados diretamente à vida terrena e às paixões demasiado humanas – dentro dessa hierarquia as funções podem crescer e decrescer em importância. Dependendo das circunstâncias, muitas vezes um Exu é considerado quase no mesmo nível de um Orixá...
Indecline: Kick all Heads!
Um exemplo bem didático desse “colocar a mão na merda” foi a ação promovida pelo grupo de artistas ativistas norte-americanos “Indecline”, que acabou gerando uma onda de protestos da extrema-direita.
“Indecline” é um coletivo de artistas que atuam no limite da legalidade com suas peças e performances de protestos em espaços públicos e Internet: “O conjunto de trabalhos do Indecline é predominantemente de atividades ilegais, virtualmente todos eles crimes”, disse o porta-voz do grupo que não revela seu nome – clique aqui.
O que causou furor nos apoiadores de Trump e de Bolsonaro foi a ação “Freedom Kick”, definida como “uma chance de reiniciarmos depois de anos de jogo sujo e conduta anti-desportiva. No futebol, um tiro livre é uma chance de interromper o jogo por um momento e corrigir uma falta. Na democracia, a liberdade de expressão é a força esclarecedora que impede os tiranos de escaparem impunes do assassinato”, afirmam.
A ação consiste em vídeos de protesto com esculturas de cabeças hiper-realistas de Putin, Trump e Bolsonaro. Elas chegam aos países mais afetados pelas suas políticas para então os seus opositores jogarem futebol com elas. O terceiro vídeo da série mostra a cabeça de Bolsonaro chegando em São Paulo até ser usada em uma quadra e usada como bola.
Nas redes, robôs e ativistas de extrema-direita surtaram. Por exemplo, a deputada Bia Kicis “freakou”: “Que coisa mais asquerosa. É o famoso 'ódio do bem' que passa desapercebido pelos defensores da 'democracia'. Uma criança segurando a cabeça do presidente Jair Bolsonaro. E se fosse a cabeça da Marielle? Ou do Lula? Ou de algum ministro do STF? Mas os intolerantes somos nós”, disse a parlamentar.
“Atentado à vida”, “discurso de ódio” é o que mais se ouve, duplicando as mesmas acusações da esquerda contra vídeos com extremistas de direita empunhando armas e ameaçando opositores, gays, comunistas...
É claro que essa “violência metafórica” do Indecline (uma sutil diferença da violência direta e grosseira de armas+pornografia+ameaças físicas da extrema-direita) está no limite ético e moral pelo mau gosto e violência simbólica. O coletivo de “artivistas” (como se autodefinem) composto por grafiteiros, fotógrafos, cineastas e “rebeldes em tempo integral”, sabe disso. O tempo de exposição dos seus atos é curto, por serem ilegais.
Com tão pouco tempo de exibição pública, o trabalho do Indecline geralmente obtém maior exposição nas mídias de notícias. O grupo também fotografa e grava seus trabalhos para distribuição nas redes sociais.
As estratégias do Indecline (no caso do vídeo bizarro da cabeça hiper-realista de Bolsonaro, é QUASE reutilizar o discurso de ódio, apenas com os sinais trocados) são um exemplo dessa incursão no mesmo campo semiótico do inimigo.
Um exemplo para a esquerda refletir numa guerra semiótica até aqui perdida: precisamos de hackers ativistas e "artivistas"? - (Fonte: Cinegnose - Aqui).
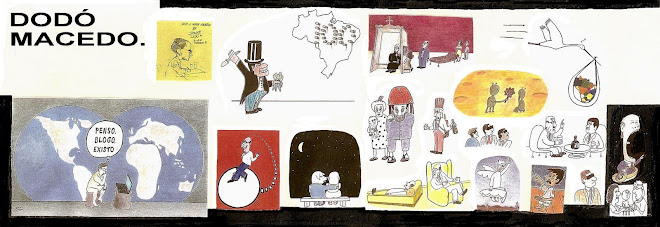




Nenhum comentário:
Postar um comentário
Faça o seu comentário.