"A cena variava pouco. Passo gingado, respiração ofegante, invariavelmente de calça e camisa jeans, ele chegava à Editoria de Esportes do Jornal do Brasil e era logo saudado. Quando não cercado por jovens repórteres, estagiários ou um visitante ocasional. Era o centro das atenções. Bom de papo, com respostas curtas e fina ironia, logo se enturmava. Nem de longe sugeria se tratar de um mito, o misto de boa-vida, treinador de futebol e cronista requisitado, que conservava o jeitão do gaúcho machista, de não aceitar desaforo, a que se incorporaram os hábitos do malandro carioca.
“O que há de novo, João? Está com uma cor boa”, disparava a jovem jornalista, solidária com a recente internação do ilustre colega. “Cortisona...” Resposta na bucha.
João não era só o cara que comandou o Botafogo no título carioca de 1957. Ou o homem confiante que aceitou o encargo de assumir uma Seleção Brasileira com imagem desgastada em 1969. “É uma sondagem ou convite?”, perguntou ao cartola da CBD Antônio do Passo. Ao ouvir que era o segundo, não hesitou: “Topo!” E ao ser apresentado, sacou do bolso um papel e listou 11 titulares e 11 reservas. “Levar esse time ao México vai ser barbada!” E foi: seis vitórias em seis jogos nas Eliminatórias, 23 gols a favor e apenas dois contra.
Após a classificação, viajou pela Europa, onde teve embates memoráveis em entrevistas a jornalistas ingleses e alemães. Aos primeiros, indagado sobre a quantidade de ladrões no Brasil, não deixou por menos: “Se vocês não tivessem aqui os maiores ladrões, a Scotland Yard não seria a melhor polícia do mundo”. Aos segundos, foi mais fundo ao ouvir que no seu país havia matança de índios: “Em 400 anos de história, nós matamos muito menos índios do que vocês mataram judeus em um dia de Segunda Guerra”.
Assim era o nosso João. Mas não pretendo desfiar casos já contados em incontáveis reportagens. Nem lembrar que ele foi ao México sim, mas como comentarista e colunista, demitido no início de 1970, na sequência de duelos verbais com Yustrich, então técnico do Flamengo, que por pouco não descambaram em tragédia – ele invadiu armado a concentração do time carioca, à procura do desafeto. Sem contar a queda de rendimento do time e declarações infelizes como a de que Pelé estava míope. Isso as reportagens e livros a respeito contam melhor. “Não sou sorvete para ser dissolvido”, resumiu ao ouvir de Passo que a comissão técnica estava dissolvida. Na verdade, só ele saiu. Zagallo assumiu e manteve todos os outros integrantes.
Prefiro me ater ao personagem com quem passei a conviver de perto quando me mudei para o Rio, em 1985, transferido da Sucursal de Minas para a sede. Já nos conhecíamos, de esporádicas idas dele a Belo Horizonte. Numa delas, era dia do aniversário do colega Fernando Lacerda, que o convidou. O aniversariante acabou ficando em segundo plano, que a atração da festa só podia ser o João.
“O Homão morreu, hein! Que chato! Era um grande personagem”, lamentou comigo a morte de Yustrich em BH. “Você está indo para a Austrália, não?” Eu iria cobrir o Torneio do Bicentenário do país da Oceania, em 1988. “Não vai cair nessa de que o fuso horário é acima de 12 horas. Não existe fuso acima de 12 horas”, sentenciou em outra ocasião, dando uma complexa explicação. Ele sabia de tudo, discorria sobre tudo, seus casos, reais ou exagerados, dariam bem mais do que sua idade. Na véspera do embarque, fui ao jornal pegar passagem e os dólares, acompanhado da minha mulher. Na editoria, só estava o João, batucando a coluna. Ao tirar da máquina a lauda em que acabara de escrever suas 30 linhas de praxe, entregou-a à Beth. “Vê se tá bom!”. Minha mulher, que não curte nem entende de futebol (graças a Deus), até hoje fala com orgulho do dia em que foi a primeira a ler uma coluna do grande João.
Ao chegar à Austrália, constatei que o fuso era de 13 horas à frente de Brasília. Fazia questão de citar isso nos meus textos. E na Nova Zelândia, onde passei na ida e na volta, eram 15 horas a mais... De nada adiantou. Ao retornar ao Brasil e ler os jornais que a Beth me guardou, constatei que os redatores, convencidos pela tese do João, mudaram para 11 horas todas as vezes em que escrevi 13. E ele, na TV Manchete, ainda dizia: “O garoto do JB se confundiu todo”. À época, não havia celulares, né? Era mandar o texto pelo telex e torcer para sair publicado direitinho. Cobrei do João com bom humor: “Mas a Austrália está 13 horas na frente”. Nem assim ele aceitou. No máximo, contemporizou: “Isso é questão de horário comercial”.
Até hoje rio da história. Como rio à lembrança da conversa dele com a maratonista que visitava a editoria. “O que está fazendo aqui, minha filha?”, perguntou. “Vim divulgar uma corrida, do Leme ao Leblon”. Ao que ele deu aquele sorrisinho meio blasé: “Por que não pega um táxi?” Ou de quando o Oldemário Touguinhó me contava com espanto: “Fui a uma avenida lá pros lados de Braz de Pina e dei uma volta tremenda, por uma porção de subúrbios. Antes de voltar, pedi indicação da Avenida Brasil, para retornar mais diretamente. O cara me falou pra virar à direita e descer um quarteirão. E dava na Avenida Brasil, ali pertinho, rapaz!” Atento ao papo, João ergueu os ombros e definiu: “É só ver os pontos cardeais”.
Assim era ele. Com aquele machismo de gaúcho, garantia que fulano ou beltrano era viado. Nem João Havelange escapava do vaticínio. Numa roda de conversa com Tadeu de Aguiar, Luiz Augusto Nunes e eu em Córdoba, durante a Copa América de 1987, na Argentina, Sandro Moreyra, com quem se reconciliara após mais de dois anos de rompimento, objetou: “Pera aí, João. Em mais de 40 anos de futebol, jamais ouvi dizer que Havelange é viado”. O colega devolveu incontinenti: “De beijar na boca!”.
Ele se foi aos 73 anos, na Itália, para onde viajara com o objetivo de cobrir a Copa de 1990. Consequência do enfisema, os pulmões condenados pelos anos de cigarro. Saiu praticamente do hospital para o Galeão. Desceu em Roma em cadeira de rodas, quase levando às lágrimas o veterano correspondente do JB, Araújo Netto. No dia da semifinal Itália x Argentina, não conseguiu comentar para a TV Manchete nem escrever a coluna. Estava de novo internado. Quatro dias depois do Mundial, não resistiu.
Pois bem, a data de 3 de julho de 2017 marca o centenário de João Alves de Jobim Saldanha, o João Saldanha. Um mito, a ser celebrado em relançamentos de livros de crônicas e em quadros especiais nos programas esportivos da TV. O sujeito politizado, ligado ao Partido Comunista, que visitou incontáveis países, conheceu meio mundo. Contava que caminhara com Mao Tse Tung na Marcha de Pequim – Sandro o provocava, dizendo que pisara no pé do líder e este reclamara: “Pola, João!” E também que desembarcara com Montgomery na Normandia, no Dia D. Suas histórias, somadas, lhe dariam 200 anos.
Acima do personagem conhecido e requisitado, rendo aqui minha homenagem ao companheiro de trabalho, que gostava de puxar papo, de falar comigo das coisas e dos esportistas de Minas. Do homem que comentava o futebol como se estivesse na mesa do bar. Quando soltava o bordão “Meus amigos...”, sabíamos que vinha história boa. Para mim, era simplesmente João."
(De Claudio Arreguy, jornalista, crônica intitulada "Simplesmente João", publicada no blog Ultrajano, do igualmente jornalista José Trajano - AQUI.
No centenário de nascimento, o fera João Saldanha - 03.07.1917 / 12.07.1990 -, jornalista, escritor e treinador de futebol, merece todos os aplausos. Mas, quem foi João Saldanha?
O comentarista João Saldanha
"João Alves Jobim Saldanha nasceu em Alegrete, no dia 3 de julho de 1917. O guri gaúcho que chegava ao Rio de Janeiro na adolescência era um apaixonado por futebol. Entretanto, ao contrário da maioria dos boleiros de sua geração, não se enclausurava na bolha das quatro linhas. Culto, politizado e combativo, tornaria-se não somente um esforçado jogador que passou pelas categorias de base do Botafogo e, mais tarde, se tornaria técnico da seleção brasileira, mas também um ferrenho militante do Partido Comunista Brasileiro, opositor do regime militar no país.
A curta carreira nos gramados fez com que Saldanha logo partisse para outro ramo em que pudesse se dedicar a sua paixão. Virou jornalista. Rapidamente se consolidou como um dos principais analistas de futebol do Brasil. Enxergava tão bem o jogo que muita gente começou a questionar se ele não seria mais competente que boa parte dos técnicos que criticava com propriedade. Tanto que o Botafogo levou a história a sério e o contratou como treinador em 1957. Mesmo inexperiente na função, estreou com a conquista do Campeonato Carioca e ficou no cargo por dois anos.
Voltou ao jornalismo ostentando a mesma acidez nos comentários. Tinha posições firmes e, por vezes, intransigentes, como o preconceito com jogadores cabeludos e black powers. Entendia que a cabeleira atrapalhava a visão do atleta e amortecia a bola na hora do cabeceio. De qualquer forma, se consolidava a cada dia como a maior autoridade no esporte nacional. Nenhuma voz era tão respeitada quanto a sua no que dizia respeito à seleção brasileira, sobretudo depois do estrondoso fiasco na Copa do Mundo de 1966.
Em fevereiro de 1969, a Confederação Brasileira de Desportos (CBD), atual CBF, surpreendeu ao anunciar Saldanha como o novo técnico da seleção. Alinhada ao regime militar por meio da Comissão de Desportos do Exército, a CBD, e ciente da forte militância de esquerda do jornalista, resolveu apostar em seu nome na tentativa de sufocar a forte crítica da imprensa que recaia sobre o escrete nacional. Com o discurso de montar um “time de feras”, ele aceitou o convite e convocou os melhores jogadores do país em atividade. Sob seu comando, craques como Pelé, Tostão, Gerson e Dirceu Lopes empilharam uma sequência de seis vitórias em seis jogos nas Eliminatórias e carimbaram o passaporte do Brasil para a Copa, resgatando o orgulho dos torcedores pela seleção.
Apesar do sucesso e da popularidade como treinador, Saldanha não deixou de atacar a ditadura, principalmente após a ascensão do general Emílio Garrastazu Médici ao poder. O regime militar endureceu a repressão a integrantes do Partido Comunista. No fim de 1969, o assassinato de Carlos Marighella, um amigo de longa data, despertou de vez a ira do treinador da seleção. Ele montou um dossiê, em que citava mais de 3.000 presos políticos e centenas de mortos e torturados pela ditadura brasileira, e o distribuiu a autoridades internacionais em sua passagem pelo México na ocasião do sorteio dos grupos da Copa, em janeiro de 1970.
Desde então, o governo de Médici iniciaria um esforço velado nos bastidores para derrubar João Saldanha do cargo. Em março, o treinador foi questionado por um repórter sobre o pedido do general, que, assim como ele, era gaúcho e gremista, para convocar o atacante Dario, o Dadá Maravilha, do Atlético Mineiro. Saldanha não pestanejou: “Ele [Médici] escala o ministério, eu convoco a seleção”. Duas semanas depois de sua resposta atrevida, foi demitido da seleção e deu lugar a Zagallo, que, em poucos meses, conduziria “as feras do Saldanha” ao tricampeonato mundial. Contou com o auxílio de Cláudio Coutinho, um capitão do Exército que, ainda na década de 70, também se tornaria técnico da seleção.
Dadá Maravilha foi convocado por Zagallo, mas não disputou nenhuma partida na Copa. Mais tarde, confidenciou que João Havelange, então presidente da CBD, teria admitido que despediu Saldanha por imposição de Médici. “O regime não admitia a possibilidade de um líder oposicionista tão expressivo como o Saldanha voltar do México consagrado e venerado pelo povo”, conta o jornalista Carlos Ferreira Vilarinho, autor do livro “Quem derrubou João Saldanha”. Em uma entrevista ao programa Roda Vida, em 1985, o próprio Saldanha resumiu o desenrolar de sua queda diante das pressões do governo. “Considero Médici o maior assassino da história do Brasil. Ele nunca tinha visto o Dario jogar. Aquilo foi uma imposição só para forçar a barra. Recusei um convite para jantar com ele em Porto Alegre. Pô, o cara matou amigos meus. Tenho um nome a zelar. Não poderia compactuar com um ser desses”.
Passada a euforia pelo tri, Saldanha manteve seu tom crítico e a intensa atividade política, que ajudaria a derrubar o regime militar 15 anos depois. Também manteve o vício no cigarro. Morreu durante a cobertura da Copa de 1990, na Itália, aos 73 anos. Em 1988, uma das últimas vezes em que voltou a tocar na ferida que o incomodava, escreveu sobre sua demissão com a altivez de sempre: “A pressão foi ficando insuportável. Por gente da própria CBD e da ditadura. Era difícil tolerar um cara com longa trajetória no Partido Comunista Brasileiro ganhando força, debaixo da bochecha deles”. Sem filtros, sem freio. Assim vivia o João Sem-Medo. - "Os 100 anos de João Saldanha, o técnico que atormentou a ditadura militar" - Jornal El País - aqui).
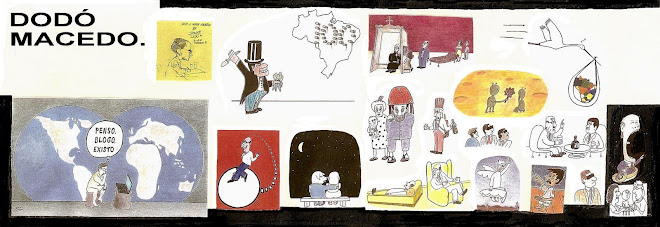



Nenhum comentário:
Postar um comentário
Faça o seu comentário.