Woody Allen por Kléber.
Woody Allen é botafogo
Por Arnaldo Bloch
‘Se eu sou um gênio, Rembrandt é o quê?” A frase, uma de suas preferidas em
entrevistas, não é citada em “Woody Allen — Um documentário”, de Robert B.
Weide (...) Mas é a síntese do que o filme
revela: Allen vê sua obra como um conjunto medíocre, irregular, lotado de cenas
que não funcionam, com raros achados artisticamente felizes.
Sua
estratégia, ele confessa, é, e sempre foi, fazer um filme atrás do outro na
esperança de que, a cada três ou quatro temporadas, um deles caia no gosto do
público ou da crítica, pois ambicionar à convergência é como acreditar num
truque de mágica. Ou em vida após a morte. Ou em Deus.
Não importa que a
“Time” o tenha alçado a gênio da comédia nos anos 1970. Não importa que Scorsese
veja o advento de uma revolução no cinema americano a partir de “Manhattan”. Não
importa que cada ator o tema como a uma divindade. Não importa. Pois ele mesmo,
o autor, não enxerga essa grandeza. São, só, circunstâncias.
Quem acha
que é só gênero vá assistir ao filme (...) e deixe-se vencer pela
argumentação de Allen. É um documentário feito sob medida não só para os fãs,
que vão conhecê-lo mais e enfrentar algumas desilusões de tiete, mas, sobretudo,
para quem odeia o cinema do judeu baixote de óculos.
Ele sabe direitinho
o que conquistou e se diz sem motivos para reclamar. Realizou seus sonhos de
menino: ser ator, filmar, ter controle sobre o conteúdo, ousar sempre que
quisesse e tocar clarineta. Aceitou e aceita os fracassos às vezes fulgurantes
como preço natural a pagar pela liberdade criadora e pelo direito a um ritmo de
produção em série, obsessivo.
Mesmo quando esteve na lona, forças ocultas
e algum cash o fizeram emergir. Hoje, prefeituras do mundo inteiro se digladiam
por uma vaga nos seus “filmes de cidade”, que o tornaram um popstar globalizado
après-la-lettre.
De bônus, casou-se com lindas mulheres e conseguiu a
proeza de sobreviver artisticamente, psicologicamente e, para muitos, até
moralmente ao escândalo de trair uma delas com a própria enteada e, depois,
desposá-la e adotar filhos, formando uma família tradicional.
História
que, nunca é demais repetir, se ajustaria bem a uma comédia dramática a seu
modo: sua vida, de fato, com os devidos ajustes de tom e de tempo, é como a de
seus personagens. Allen nunca deixou de sê-los, todos.
Nada disso
significa que ele tenha grande apreço artístico pelo resultado. É um autor de
tragédias frustrado que até hoje persegue as luzes e sombras de Bergman,
Fellini, Shakespeare e os russos sob sua lente essencialmente americana,
romântica, em permanente estado de guerra com o pessimismo da herança judaica,
com auxílio luxuoso da psicanálise (como sistema de pensamento e como sistema de
anedotas incessantes fornecidas pelo freudismo de massa).
Ele sabe que
muitas de suas anedotas estão datadas. E que algumas delas sempre foram datadas
e são tão rasteiras quanto seus momentos menos inspirados no stand up, quando só
o público não via seu constrangimento com o material que usava para ganhar
fama.
Acha-se um cineasta obreiro, industrioso mais que industrial, que
tem altos e baixos, como a maioria, inclusive entre os supostos “gênios”
declarados que habitam o Sistema do Cinema. Ele sente-se como um desses
equívocos. Sabe que não é Rembrandt.
Sua diferença para a média humana
consiste no fato de que essa constatação não o fere: se sobrevive ao Universo em
expansão e à existência sem sentido, que mal há em isolar cinco bolas antes de
fazer um gol?
Woody Allen gosta de NFL mas é Botafogo, mesmo sem sabê-lo.
Só um espírito alvinegro teria aversão ao Oscar. Allen crê em filmes preferidos,
mas não num “melhor filme”.
Transformar a apreciação de arte num sistema
de índices e hierarquias é algo, para ele, que desafia a lógica e mata o
subjetivo.
A excelência conferida por um Oscar é irreal. Como um tapete
vermelho em Cannes:
“Ninguém em sua vida cotidiana veste um smoking e
posa para cem fotógrafos histéricos num tapete vermelho. Isso simplesmente não é
real”, ele diz, num dos grandes momentos do filme.
A certa altura, um fã
se aproxima.
— Germany loves you.
Ele finge ouvir o nome de uma
mulher.
— Who? Gemma?
O alemão, com pureza, corrige: “o
país”.
— Ah, o país! Mas... o país inteiro?
O tiete confirma.
Allen replica.
— Isso é muita gente, não é?
A cena termina com o
silêncio do fã, autômato desconstruído pelo golpe socrático do comediante. O fã,
repetidor de scripts, é como somos, todos, quase o tempo todo: figuras irreais e
tristemente cômicas.
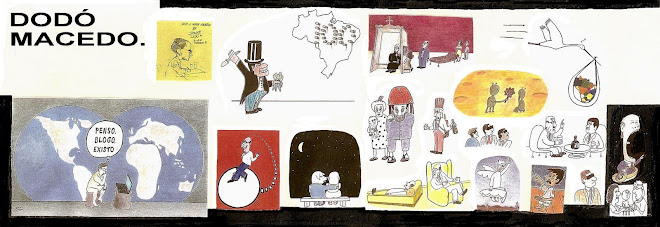

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Faça o seu comentário.